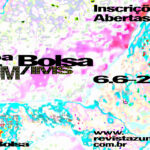Curador convidado, Alberto García-Alix explora temas como beleza, dor, horror e amor em seis exposições no festival PhotoEspaña
Publicado em: 31 de julho de 2017De riso fácil e humor refinado, o espanhol Alberto García-Alix (1956) vive um momento fulgurante da sua carreira, com múltiplas exposições, livros e solicitações para falar sobre o seu trabalho. Aproveitando este momento estelar e querendo homenageá-lo como um dos primeiros fotógrafos espanhóis a merecer uma exposição retrospectiva na primeira edição do festival, em 1998, o PhotoEspaña deu este ano carta branca a Alix para criar uma programação de exposições do seu gosto. E ele escolheu levar para Madrid a obra de Anders Petersen (Suécia, 1944), Teresa Margolles (México, 1963), Paulo Nozolino (Portugal, 1955), Pierre Molinier (França, 1900-1976), Antoine d’Agata (França, 1961) e Karlheinz Weinberger (Suíça, 1921-2006). Pelo olhar destes artistas também é possível traçar um mapa dos universos criativos do próprio fotógrafo espanhol, em que habitualmente assumem protagonismo as margens da sociedade, as tribos urbanas, os mundos intimistas, a ousadia da diferença, a paisagem poética e a auto-representação. “Quisemos ver a fotografia através dos olhos do Alberto”, diz María García Yelo, diretora do festival, para quem este grupo “usa a imagem fotográfica de uma maneira muito particular e por vezes estranha”.
“São autores que procuram um campo difícil que é o sublime, fotógrafos que conseguem mostrar, ao mesmo tempo, beleza, dor, horror e amor”, explicou Yelo, que cumpre este ano o seu terceiro e último ano à frente do festival.
Numa edição festiva, o programa oficial (com 22 exposições) é extraordinariamente eclético, tentando corresponder a um espectro de públicos o mais abrangente possível. As propostas vão do clássico – com fotógrafos tão lendários quanto Elliott Erwitt, Cristina García Rodero, Gabriele Basilico, Carlos Saura ou Minor White – ao histórico, com as paisagens americanas de Carleton Watkins e o universo cultural e artístico que envolveu o pintor espanhol Joaquín Sorolla. E ainda o campo conceitual, com as apropriações das gravuras de Goya de Fardeh Lashai, ou a busca de Peter Fraser pelas “manifestações da matemática” na paisagem.
A seção oficial inclui ainda duas exposições coletivas que juntam em pólos opostos um grande número de autores: uma é sobre o centenário da Leica e traça o uso da mítica câmara através do olhar de dezenas de fotógrafos ao longo do século 20; a outra tenta sentir o pulso da mais recente produção de fotografia de autor na Espanha, uma seleção através da qual se percebe a força do documental mais puro e o namoro com documental “ficcionado”.
No campeonato da fotografia anônima, que ganha protagonismo a cada dia, o Museu Lázaro Galdiano mostra uma das exposições mais surpreendentes do festival, Pular amarelinha (A la pata coja, em espanhol), um conjunto de quase 100 fotografias minuciosamente alinhadas pelo artista Eduardo Arroyo, que mistura fotografia de autor (não identificada como tal na sala) com fotografia comprada em mercados e lojas de segunda mão. Detalhe: em todas as imagens alguém está com uma perna levantada. É um gesto que nos desperta para a latência do movimento e para a certeza do que já aconteceu. Uma lembrança de que cada fotografia (todas elas) encerra um memento mori, uma melancolia pelo que já passou. Ao pendurar lado a lado fotografias de autores reconhecidos, como Ramón Masats, Juan Gyenes ou Hans Bellmer, com as de autores anônimos, vindas de álbuns de família de espólios dos jornais e revistas ou de simples caixas de papelão no chão de qualquer feira de velharias, Arroyo dá nobreza ao mais despretensioso retrato e põe toda a imagem fotográfica em pé de igualdade, que aqui é validada “apenas” pelo seu conteúdo e não pela sua autoria.
À diversidade destas propostas (às quais se podiam somar, só em Madrid, dezenas de outras exposições espalhadas por galerias e instituições convidadas) opõe-se a coerência do olhar de Alberto García-Alix. E esta unidade impõe-se a um nível tão forte que se pode dizer que, à falta de um tema geral, é o fotógrafo espanhol que assume maior protagonismo no festival (mesmo sem expor na seleção oficial). O tema da 20a PhotoEspaña bem poderia ser “espírito Alix”, conceito que andará entre o desafiador, o poético, o indomável e, claro, o heterodoxo.
Esse espírito começou a ser revelado logo nas primeiras exposições, no início de junho, quando o fotógrafo-motoqueiro confessou, ao lado do português Paulo Nozolino, que a concretização destas exposições (agrupadas sob o nome A exaltação do ser: Um olhar heterodoxo) tinha lhe servido de “alimento para a alma”.
Já longe dos microfones depois da primeira inauguração no Círculo de Belas Artes, confessou como lhe agradava a montagem que tinham feito para a exposição Brilho carregado (Loaded Shine, em inglês), embora quisesse que o muro que intermedeia a entrada e as fotografias fosse mais comprido, de maneira a “proteger” e isolar ainda mais o trabalho de Nozolino. Nas palavras que deixou inscritas na Sala Goya, onde brilha a mostra, García-Alix faz um exercício de adivinhação para, imediatamente a seguir, nos trazer de novo à terra sobre o que está à frente dos nossos olhos: “Talvez Nozolino tenha começado a olhar o céu. Um céu sempre carregado. As suas imagens parecem sair de sonhos. Hoje, com este trabalho, ele sujeita o seu olhar ao atemporal e em relação àquilo que, aparentemente, já está morto. Vemos um mundo que se destrói continuamente.”
De uma sala “sacra” Alix conduz-nos logo a seguir para uma espécie de quarto escuro onde reina o mundo transgressivo de Pierre Molinier, poeta, pintor, “surrealista esquecido”, maldito, xamã, figura violenta e provocadora (Foi um homem sem moralidade, chama-se a exposição), fotógrafo da transfiguração, do desejo, do fetiche e do prazer narcísico. O sentimento de García-Alix balança entre a compaixão e a admiração profunda por um “feroz hedonista e independentista”, alguém que preparou a morte e escreveu a lápide da sua sepultura (reivindicando precisamente uma existência amoral). O culto crescente (e a especulação) em relação à obra radical-obsessiva de Molinier, caricaturado como “homem-puta” e classificado como “o artista mais sincero do século 20”, é proporcional ao medo e à repulsa que ainda provoca. Parece óbvio que García-Alix sabe disso, como parece evidente que lhe dá especial prazer mostrar num centro de belas-artes as imagens de um enorme transgressor que não ambicionou a glória artística. Numa sala pequena e redonda, alinham-se cadeiras estofadas que nos convidam a um olhar mais demorado, um pouco como se estivéssemos a espreitar pelo buraco da fechadura, a entrar na intimidade andrógina de um mestre da representação, da ilusão e da transfiguração do corpo.
Das profundezas da existência de “um grande fabulador” que expiou os seus demônios através do corpo, Alberto García-Alix indica-nos a seguir outro cultivador do auto-sacrifício como ato de resistência: Antoine d’Agata. Na instalação Corpus, o fotógrafo francês usa fotografia, texto e vídeo (e muito design) para percorrer os temas centrais de uma obra em que é criador e protagonista. Numa linha circular (num obra que tende a andar em círculos) aparece a dependência do sexo e das drogas, de uma vida sempre à beira do excesso, do limite, do precipício e da queda. Esta viagem, conduzida pelo medo e pelo desejo, começa em 1987 e termina em 2016. Pelo meio, a repetição de imagens de violência, esgar, sofrimento, demência e desespero. Nos vídeos, vozes constrangidas de mulheres soltam frases em registo diarístico como “Tenho a boca cheia de moscas”, “Não posso ficar debaixo do teu corpo doente” ou “Daqui para a frente envolve-me na tua obscuridade”.
Ainda na visualidade do corpo, mas sobretudo na agitação social e política que a sua transformação pode causar, o trabalho de Teresa Margolles é entre todos os artistas eleitos por García-Alix aquele que mais denúncia carrega. Um conjunto de grandes fotografias coloridas revela a destruição de clubes noturnos, de espaços de baile e de diversão na cidade mexicana de Ciudad Juarez, onde trabalhadoras transgênero exerciam a sua profissão. Privadas destes lugares de refúgio, ficaram à mercê de um sociedade violenta e intolerante, “condenadas” ao ostracismo. Carla, uma transexual com quem Margolles trabalhou e de quem era amiga foi assassinada durante a realização desta série. Porquê? “Por ser transgênero. Rasgaram seu ventre.”
É sobre aqueles que vivem nas margens da sociedade que fala também Café Lehmitz, de Anders Petersen, que, no final dos anos 60, passou dois anos e meio naquele bar de Hamburgo, a conviver e a fotografar uma clientela formada por cafetões, prostitutas, drogados, estivadores, criminosos, velhos solitários e alcoólicos. Alberto García-Alix confessou uma profunda admiração por este trabalho seminal da fotografia europeia e encomendou ao comissário Nicolás Combarro uma revisitação da obra. O resultado é a revelação, pela primeira vez, das folhas de contato das milhares de fotografias que Petersen tirou no Lehmitz, café que hoje já não existe. Há também fotografias que nunca tinham sido ampliadas, fato que transforma esta exposição num marco do festival. O ambiente de vibração e de folia constantes no Café Lehmitz, com todo o tipo de exibicionistas, pode dar a ideia de que tudo aquilo não passava de um mundo teatral, um “circo social”. Mas Petersen desmente esta provocação: “Não são atores. São muito reais. São pessoas normais, um grupo que não pertencia realmente à sociedade, que estava fora dela.”
E para terminar a seleção de Alix, o trabalho de alguém que também procurou dar imagem a um mundo marginal e underground, Karlheinz Weinberger, que nos últimos anos tem sido objeto de curiosidade e de interesse. Weinberger começou a fotografar na adolescência e nos anos 40 juntou-se ao clube gay Der Kreis (O Círculo), começando a publicar na revista de mesmo nome, título que se tornaria referência para o movimento homossexual internacional. No final dos anos 50, depois de pedir a um rapaz numa rua de Zurique permissão para fotografar por causa de uma roupa de caubói inspirada no cinema americano, passou a retratar (sobretudo) rapazes suíços que procuravam desafiar os conceitos tradicionais de masculinidade e feminilidade. Pelas imagens de Weinberger (expostas no Museu do Romantismo) podemos perceber que os fotografados o fizeram sobretudo através da reciclagem e do pastiche dos símbolos dos rebeldes sem causa ou da criação de novos adereços e vestuário, que tinham um toque artesanal e, sobretudo, caminho aberto para chocar.
Na primeira vez em que se deparou com as fotografias de Weinberger, García-Alix ficou seduzido apenas pelo brilho das chapas dos cintos (muitos com a figura de Elvis estampada), com a ousadia de fazer das braguilhas um tema fotográfico e com o espírito roqueiro transmitido por estas imagens. Depois de investigar e estudar a obra percebeu que havia algo mais, para além dos adereços e vestuários estranhos, um trabalho “complexo”, que foi sendo construído num apartamento onde Weinberger vivia com a mãe. Quando começou a levar estes rapazes para o estúdio improvisado de casa, uma das primeiras coisas que Karlheinz Weinberger tratou de fazer foi mudar a discografia, passando da música clássica para o rock. Tudo para criar o ambiente adequado para as suas imagens que, com o passar do tempo, revelar-se-iam cada vez mais ousadas. “Depois de vermos o conjunto da sua obra, percebemos que no início ele só estava interessado nos jeans, nos cintos e nas braguilhas. Mas depois começou a pedir aos modelos para tirarem as calças, e, mais tarde, pediu-lhes retratos segurando o pênis. Isto era uma grande ousadia para a época. Podemos dizer que através da fotografia fazia sexo. Mas não havia fisicalidade nestes momentos de intimidade. Não havia outra relação que não a fotográfica. E esta é a grande heterodoxia deste homem e deste trabalho”, observa García-Alix.
Weinberger nunca foi um fotógrafo em tempo integral. Trabalhava como responsável de armazém de segunda a sexta e só se dedicava à fotografia nos finais de semana. “Este homem encontrou sentido para a sua vida através da fotografia, através da relação que estabeleceu com estes rapazes pelos quais foi seduzido. Foi um fotógrafo que viveu seduzido pelo que retratou”, diz García-Alix. E aponta uma terceira mudança de direção no trabalho do fotógrafo suíço, no final dos anos 70, quando começou a ir às concentrações de motoqueiros: “Apesar de serem homens românticos, não é o tipo de homens que esperamos encontrar no Museu do Romantismo. Até agora.”///
Sérgio B. Gomes é jornalista e escreve sobre fotografia no jornal português Público desde 1999. É pesquisador da história da fotografia em Portugal, júri de vários prêmios, curador de exposições e editou por dez anos o blog Arte Photographica (2005-2015).
Tags: exposição internacional, festival photoespaña, fotografia