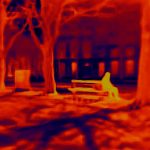Regras de isolamento
Publicado em: 22 de maio de 2020Borboletas amarelas e negras esvoaçam até ao segundo andar. Os melros pousam nos ramos mais altos dos choupos, sem medo das maritacas, que pintalgam de verde e amarelo os ramos secos. Mãe: “Entra na tua casa, povo meu, filha, não te esqueças das palavras do profeta Isaías”. Pai: “Isto não é nada, só me faltava agora ter de ir para a rua de máscara”.
Vizinhos que nunca tínhamos visto passeiam cães que não conhecíamos. Na mercearia, compra-se vinho. As velhas comentam: “ai leva vinho, com tantos meninos em casa?” (e levam vinho também).
Algumas coisas apenas o fogo revela: os elos que unem os vizinhos; o silêncio da família nos grupos de WhatsApp, após o entusiasmo dos primeiros dias; o fio de paranóia dos mais jovens, ocupados com teorias da conspiração; o narcisismo de alguns, em pânico com a nova rotina monotemática, que o desaloja da dialéctica de poder das conversas de circunstância. O relógio derrete, acende, ressona. Na chamada de vídeo, o cabelo de Maria treme, tão branco, esfumado; o rosto dela, envelhecido, desfocado como ela e o seu medo de morrer: “fumo três cigarros por dia, metade de cada vez, para não ter de ir à tabacaria”.
Na rua, os sem-abrigo já são mais do que ontem. Quando foi ontem?
“Cuidado, não toques em nada”, diz a mãe ao filho na escada do prédio, quando vão a sair. As escadas do prédio, antiga carcaça do náufrago, tornaram-se veneno. Saímos e entramos sem tocar no corrimão, acendendo as luzes com os cotovelos. Não sabíamos que o veneno não altera as sombras nem a luz sobre as superfícies. O sol bate nos vidros das janelas, nada nas nossas mãos mudou aos nossos olhos.
No relvado vazio, o pai joga à bola com o filho. O filho vai sempre à baliza.
A televisão ensina como lavar as mãos, mas há quem faça quilómetros por escassos litros de água. De novo, o fantasma da escrava a quem negaram sabão para se lavar assoma. Ela só não queria cheirar mal, disse à sua senhora, vem em Solomon Northup.
Na Índia, desinfectam homens ajoelhados no chão à mangueirada; na Libéria, a carga policial dispersa a multidão no mercado.
À vivenda da frente chega uma carrinha de jardineiros. Não vive lá ninguém, excepto o caseiro. Tudo parece estranho, se visto de muito perto. Nem eles se vestem como jardineiros, nem o cortador da relva soa ao mesmo, nem podam as flores da forma certa.
Parece um assalto, mas é a rotina vista com os binóculos do medo.
Uma amiga, na mercearia. Estamos na fila, separadas dois metros uma da outra. Ela ouve mal, faz interpretação labial. A dois metros de distância, todos somos surdos. Aceno-lhe e ela acena para mim. Ao longe, alguém escarra para o chão. “Besta”, murmuram ao meu lado.
Um casal de sexagenários diante da banca dos legumes. Ele: “Isto é o quê? Só há isto.” Ela: “Acho que é nabiças, não sei, acho que é isto que ela costuma pôr na sopa”.
Três vezes por dia, a viúva espreita pela janela, antes de vir à rua deitar o lixo ao caixote do jardim. Quando o terreno está livre, desce. Traz sempre dois saquinhos apertados com um nó. Olha para a direita. Olha para a esquerda. Deita os saquinhos no caixote. Volta ao prédio. Sobe a escada. Vai à janela confirmar que ninguém a viu. Fecha as cortinas. Baixa as persianas. Acende a luz. Sentir-se-á lavada, derrotada ou acossada?
Na varanda, Carlos contempla os miúdos que fumam charros na rua: “sabes, é que eu sou velho, tenho menos tempo, e ainda tenho tanto que fazer.”
A rua vazia é anti-Carlos, anti-humanos. Ele não sai de casa nem para se encontrar com o marido, que não vê há um mês e meio.
Telefona aos amigos, muda os quadros de sítio, telefona aos amigos, como Adelaide, que pede discos na rádio para os netos que fazem anos e lava o cabelo sozinha em casa, “ai, filha, estou tão feia, com o cabelo todo escorrido”.
O cabelo de Adelaide, seu melhor amigo, nunca fora lavado em casa.
O medo, declinação da misantropia, não aflige os militares misantropos, que ainda se juntam no café e bebem bicas de copos de plástico a dois metros uns dos outros, dispostos em roda. Não vivem sem esse momento de convívio. São, de repente, não hostis, mas quase cândidos, carentes, amigáveis, à sombra da figueira do bairro, como numa reunião de ex-combatentes do Ultramar na floresta.
“O que ajuda?”, perguntou Robert Adams em Why People Photograph. O que nos ajuda durante o nosso tempo de vida, o que torna mais leve a subida desta montanha?
Os relógios dos nossos avós ainda nos nossos pulsos, queijo e bolachas, o vento nas folhas, um copo de água, a noção de que a casa voga no mar, como um bote, uma tesoura, um cigarro, um disparo? A carta que nos confiou o sr. Alberto, arrumador de carros no Chiado, ainda Saddam Hussein era vivo, o que torna mais leve a descida desta montanha?
Minha filha amada,
Queria ouvir tua voz nem que só por um momento. Escutar a tua respiração e as tuas palavras. Peço-te que me perdoes não sei quantas vezes já pedi, mas pedirei até morrer.
Se chegares a abrir esta carta, lembra-te de teu pai. Paguei caro ao Salam da tia Nina para levar, e também o vestidinho para ti, vai junto. Vida aqui está apertada. Penso em ti dia e noite aí em Bissau com tanta violência, balas perdidas. Escola, já acabou? Se calhar, já sou avô e não sei, já sou pai de moça casada.
Sonho morrer avô e que me perdoes mesmo se eu já for cadáver. Sonho com as tuas lágrimas na minha vala, minha filha, serei sempre teu pai, Alberto.
Perguntarmos o que ajuda implica reconhecermos que, por princípio, precisamos de ajuda. A condição de estar vivo — de nascer para uma vida — é a de alguém que precisa de alguém. Mais de mil milhões de pessoas em casa em todo o mundo, mais de mil milhões de ajudados. Outros tantos milhões ao relento: sem sabão, sem pão, sem água. O relógio derrete, pulsa, a escrava adormece no seu cheiro. Não servia a caverna para nos abrigar? Nos nossos abrigos, estamos apenas indefesos. ///
Humberto Brito é fotógrafo, professor do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade Nova de Lisboa e membro do Instituto de Filosofia da Nova. Vive em Lisboa.
Djaimilia Pereira de Almeida é escritora. Com Luanda, Lisboa, Paraíso recebeu o Prêmio Oceanos 2019. Vive em Lisboa.
+
Leia também no #IMSquarentena uma seleção de ensaios do acervo das revistas ZUM e serrote, colaborações inéditas e uma seleção de textos que ajudem a refletir sobre o mundo em tempos de pandemia.
Tags: Covid19, IMS Quarentena, Isolamente Social, Pandemia, Portugal, ZUM Quarentena