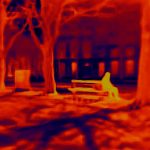O corpo da rua
Publicado em: 4 de novembro de 2022
Sentada em uma praça no centro do Recife, perto de um movimentado mercado público, e de ruas igualmente movimentadas numa sexta-feira, espero a chegada de Jailson, Jefferson (conhecido também como “Cara de Gato”, maneira como se apresentou para mim) e Fagner, com os quais conversaria a tarde inteira. Aqueles três homens tinham uma coisa em comum: lidavam há mais de uma década com a realidade das pessoas em situação de rua. Reunimo-nos para conversar sobre o filme do artista Jonathas de Andrade, em que dois deles – e mais outras 100 pessoas em situação de rua – participaram. O Olho da rua (2022), título do filme dirigido por Jonathas de Andrade, provocou um impacto significativo entre não somente quem pôde assistir ao filme em exibição na exposição Penumbra (Mostra coletiva da Fondazione In Between Art Films, no Complesso dell’Ospedaletto, Veneza, abril – novembro 2022, durante a 59ª Bienal de Veneza, em que o Brasil foi representado por Jonathas de Andrade no pavilhão nacional), mas principalmente entre suas personagens: pessoas em situação de vulnerabilidade social oriundas do Movimento Pop Rua, movimento social de luta pela dignidade humana e acesso a direitos básicos da população em situação de rua, em Recife.


Olho da rua acontece em torno de encontros para o preparo de refeições coletivas e é dividido em oito atos, que funcionam como capítulos que se propõem a exercitar formas de olhar. Como é habitual nas obras de Andrade, há uma intersecção de difícil dissolução entre ficção e realidade. O artista entende como potente o gesto de convidar pessoas a representarem a si mesmas, e nem sempre isso significa representar-se documentalmente. Andrade acredita no exercício de assumir-se em uma espécie de palco, e que ver a câmera direcionada para si é um exercício que os impele a contar suas próprias histórias, ou tomar consciência de suas próprias histórias. As atrizes e atores do filme são justamente as pessoas que em suas vidas estão ou já estiveram nessas condições.
É possível apontar para a natureza híbrida de Olho da rua por dois vieses. Além do elemento já mencionado dos atores serem as pessoas viventes da realidade encenada, Jonathas de Andrade se propõe repetidamente a construir obras com corpos ou grupos sociais distintos e distantes de sua realidade e vivência pessoal. E, por esse viés, seu trabalho ganha camadas especialmente problematizantes. Essa mescla de dimensões diversas, potências e fragilidades, de corpos ou grupos sociais outros pode ser lida como oportuna (ou inoportuna) no cenário em que vivemos no Brasil e no mundo.

Em se tratando da inserção no Brasil contemporâneo, que atravessa um momento desafiador de sua história política por conta da (des)orientada gestão do atual Presidente da República, as camadas de complexidade que costuram a realidade social e, portanto, a obra são amplificadas. O governo de Jair Bolsonaro é escancaradamente responsável por um cenário calamitoso: alto nível de desemprego, o estanque do salário mínimo do brasileiro, o retrocesso nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, saúde, educação, cultura, direitos humanos e assistência social, que implicam diretamente no crescimento do número de pessoas vivendo nas ruas. Em dezembro de 2021 contava-se 158.191 pessoas vivendo nas ruas do Brasil [1], de dezembro de 2021 a maio de 2022 estima-se que esse número cresceu em 16%.
Além disso, o número de pessoas em situação de rua no Brasil está historicamente relacionado aos processos desencadeados pela colonização. O evento de promulgação da Lei 3.353, de 13 de Maio de 1888, mais conhecida como a Lei Áurea, foi um fato histórico indubitavelmente responsável por lançar as ruas, sem direitos ou estratégias de absorção social, uma infinidade de corpos negros, indígenas e mestiços. Por ter sido realizada sem articular estratégias sociais de acolhimento e reparação aos indivíduos “libertos” da escravização, o processo de escravização de populações no Brasil, mesmo com a implementação da Lei Áurea teve a sua continuidade com a situação de marginalização em que vive, até os dias de hoje, boa parte dos corpos pretos, pardos e indígenas no país, sem direito a cidadania real, trabalho ou moradia. Como um filme, que toca e escancara pautas e narrativas identitárias caríssimas ao Brasil contemporâneo, pode figurar como potencializante de corpos e vidas que estão crua e abertamente desprivilegiadas diante das dinâmicas sociais e humanas de nossos mundos?
Para a escrita desse texto sobre Olho da rua, e em busca de fortalecer as vozes que corriqueiramente não acham espaços para falar, ou, melhor, os corpos que são colocados à margem do audível ou visível, optei por conversar com os atores do filme e o artista separadamente. No início de agosto de 2022 entrei em contato com Jailson José dos Santos (1975), liderança ativa do Movimento Pop Rua, que convidou para a conversa Jefferson Alves Ferreira (1988) e Fagner Valença (1988).
Para começar, perguntei a eles sobre como foi fazer um filme em parceria com um artista como Jonathas de Andrade, homem branco, advindo de outra classe e realidade social, que trouxe a ideia do filme para ser realizada junto a pessoas em situação de rua. Jailson, de prontidão, elabora na ponta da língua: “Eu aprendi isso muito rápido, desde cedo, que tem que ser assim, que a gente tem que agregar conhecimento mesmo, e fazer amizade mesmo… Para a galera se identificar com a gente, pra dizer que a gente corre atrás, e ver que a gente é sangue bom e que quer mudança.” No que não tardou a emendar: “O filme toca na realidade das pessoas em situação de rua e foi fiel à vida que a gente vive em situação de rua, porque ele retrata várias coisas… Tem a questão da fome, da alimentação, da partilha, que você viu ali que teve partilha… No filme dá pra ver que tem partilha, que a galera está com fome e está precisando comer, mas o outro também está precisando comer e a gente só tem esse prato ou comida… E aí vamos dividir, vamos comer junto, se só tem um prato. Eu dou uma garfada, você dá outra. A rua é isso, esse companheirismo, essa vivência mesmo, de superação, de você saber da realidade e da necessidade do outro, e por isso compartilhar… Ficou massa demais o filme…”

A conversa ia seguindo, e entre palavras e partilhas fomos elaborando sobre o atravessamento que o filme foi capaz de produzir nas vidas pessoais de cada um ali. Jailson dizia: “A gente queria era já outro filme… Fazer mais um, um que a gente conseguisse mostrar o que acontece no dia e na vida de uma pessoa em situação de rua do início ao fim. O tema que a gente queria era a vida das pessoas em situação de rua, seu cotidiano, seu cotidiano laboratorial mesmo, você ver tudo que a pessoa faz durante o dia… O Olho da rua abordou todos os temas, ele fez um sobrevôo na realidade de modo geral… Mas veja, a gente tá pensando agora em um tema e slogan para nossa campanha do movimento social, e do fórum nacional dos movimentos sociais das populações de rua: ‘Uma vida só’. Pois mesmo estando no aglomerado, no amontoado, entre um monte de gente, a gente sente isso: a gente se sente só. A gente não tem esse incentivo de se sentir pertencente… Você não tem amigos propriamente ditos, você tem pessoas conhecidas mas você não tem companheirismo, você não tem amor, você às vezes tem companheirismo mas não é o tempo todo… A pessoa não está vinculada a você… Essa é a palavra mais forte: vinculada. Então, assim, por isso que é importante esse tema porque a gente nunca se une, a gente só se junta no momento da comida.”

Estávamos nós quatro sentados numa praça pública no centro da cidade do Recife, diante da Igreja do Pátio de Santa Cruz, que oferece alimentos a pessoas necessitadas. Os três olhavam, apontavam, explicavam e comentavam o que estávamos vendo. Jailson aponta: “Daqui a pouco, como estamos aqui sentados na praça de Santa Cruz, você vai ver… Daqui a pouco vai estar lotado de gente na frente da pastoral, pessoas em situação de rua ou quem está passando por dificuldade financeira em casa vem aqui pegar comida… Aí é a Cáritas, às 4 da tarde a galera vai chegar. O pessoal já está colocando suas sacolas na grade da Igreja para marcar seus lugares. E a briga da rua é essa, ela sai daí, dessa marcação de lugar nas filas para a alimentação. Quem não respeitar a marcação… Inclusive ontem teve uma facada aqui. É muito rolo… Também, a questão da defesa da vida na rua é muito presente, a vida é muito agressiva… E o interessante é que o filme conseguiu unir a galera da rua toda em prol de um objetivo. O filme mostra a realidade, foi muito bom, muito bonito de ver isso… A questão da insegurança alimentar é uma questão, é a questão da falta de assistência mesmo, porque as pessoas continuam na rua pra viver, e a falta de políticas públicas, moradia, alimentação e direitos básicos…A dignidade que está na Constituição Federal, sabe?”
Perguntei se o filme havia sido uma ferramenta que conseguiu unir o grupo e a população de rua que atuou nele. Jailson responde: “Uniu a gente. Pois aqui a gente vê o outro passando, a gente sabe quem é quem, mas a gente não fica junto. Na rua a gente sabe quem está nela mas a gente não se junta. E no dia do filme estava ali todo mundo o dia todo junto… Teve um momento participando, podendo ser ator e atriz, e ganhando um trocadinho para cada um fazer sua guia.”
Jailson: “A gente aceitou pois a gente achou bacana, mas a gente quer pensar em outra oportunidade também. Inclusive eu até falei com Jonathas sobre isso, para em outra oportunidade a gente construir junto desde o começo para que no futuro possa ter um material produzido e filmado pela própria população de rua. A Pop Rua sendo capacitada pra isso…”
Jefferson emendou: “Para mim, me ver no filme, como eu estava ainda no processo de rua, foi algo muito importante. Porque eu me senti… Eu senti que tinha alguém se importando com gente… Como é que eu posso dizer? Assim, com o filme deu pra ver que tinha ainda gente que acreditava na gente, que acredita na gente, e que dá oportunidade para a gente conduzir um filme. Tem uma história em um filme, né? Isso foi muito gratificante. Inclusive dali, do filme, só passei mais três ou quatro dias na rua, depois do filme. E fui morar lá na casa que eu estou até hoje. Em menos de uma semana da experiência do filme as portas foram se abrindo pra mim. Eu estou no aluguel social da pastoral até hoje, e hoje em dia estou casado, e foi depois do filme que isso aconteceu, antes eu estava meio lá meio cá, aí depois foi que firmou.”
Ainda sobre o atravessamento provocado pelo filme, começamos a conversar sobre as dimensões do que podia ser visto como realidade ou ficção naquela experiência do Olho da rua. Jefferson nos disse: “Pra mim foi tudo de verdade praticamente… Não sei se teve nada de mentira não… Assim, não era nada de mentira, mas talvez a única coisa que não foi como é na realidade foi aquela tranquilidade do filme… Todas aquelas mesas, as facas, colheres… A gente não come assim, né? Não rola não, nem no restaurante popular da prefeitura, quando servem comida para as pessoas em situação de rua, é com talher de plástico. Porque tem medo que a gente se engalfinhe… Na rua tem muita briga, uma faca no meio de uma briga por papelão de madrugada… As brigas são todas por papelão, papelão para dormir… Inclusive no final a história de ir buscar nosso papelão que apareceu no final do filme parece fácil, mas na realidade não é não. Inclusive no filme tiveram colchões para a gente se deitar, além dos papelões…” Em que Fagner continua: “Teve briga de casal no filme? Briga por ciúmes, de casal, é o que mais tem na rua também… Enquanto o resto da população está em suas casa, dormindo, a população em situação de rua está brigando, brigas de casal, brigas por papelão…” Jailson: “ Foi uma ficção porque não rola filmar a realidade total da rua, mesmo. Porque a realidade da rua não cabe, ela é demais, é muito… Ela extrapola aquela dimensão da filmagem… Se você tiver aqui, daqui a pouco você vê, mesmo na fila da comida daqui… Veja como está agora e veja como vai estar daqui a pouco, quando estiver mais próximo de liberar a comida, a briga que vai chegar… Você pega a confusão in loco, ai lasca pau, não dá pra pegar isso na ficção, no filme. Agora eu quero ver o nosso filme passar na Globoplay!”.

Pensando coletivamente sobre a experiência do filme, Jailson trouxe a seguinte reflexão: “Mas veja, mesmo tendo comida para todo mundo, prato para todo mundo, talheres para todo mundo, papelões para todo mundo, e até colchão para a gente deitar… Mesmo assim ainda rolou partilha, mesmo tendo tudo pra todo mundo rolou a partilha…”. Fagner: “Não teve a polícia dando em ninguém também, né? Não teve a polícia expulsando ninguém…” Jailson: “É, não teve a polícia dando em ninguém, não teve ninguém sendo acordado ou sendo expulso dos lugares.”
Na sequencia falamos das possíveis contradições experimentadas no filme e na rua, pelos corpos que a ocupam. E as reflexões foram implacáveis. Jefferson: “Sabe o que têm de contradição na rua? Depois de quatro dias tem um período que você se vincula, depois de quatro ou de cinco dias… No meu caso, com o filme, eu fui para o aluguel social, mas eu só dormi lá no quarto que aluguei na pastoral no primeiro dia porque eu fui dormir com minha esposa. Foi o primeiro dia que eu dormi, no outro dia, quando ela teve que ir pra casa dela, eu fui dormir dois dias na rua, no prédio ali no meio da rua, até que eu fiquei, assim, pensando, – peraí, eu não peguei um lugar pra sair da rua e agora voltei pra rua, por quê?” Jailson: “Aquele ali, está vendo? Ele é trabalhador serralheiro, mas vive na rua porque tem problema com drogadição. E aí o estilo de vida dele o trabalho não consegue suportar… O trabalho não dá conta da dependência dele e aí ele não consegue arcar com pagamento do aluguel e a dependência química dele… Eu conheço ele há muito mais anos e ele trabalha, se você vai ver ele está trabalhando, ele trabalha todo dia, ele tem um ofício, mas ele não consegue… Então, tem isso, tem algumas coisas que a gente não consegue deixar. Os hábitos da rua mesmo… Eu já não tenho mais nenhum, mas não é sempre que isso acontece”. Fagner: “Eu, eu mesmo não tendo vivido, de fato, a vida em situação de rua, eu vivia na madrugada mesmo quando não estava trabalhando… Eu era trabalhador do plantão noturno, e no outro dia, dia de folga minha, a noite eu não ficava em casa. Eu ficava zanzando na rua até de manhã. Ia tomar café no Cais de Santa Rita, ia ali no mangue ver a lua de noite, ia ali nos armazéns de açúcar do porto do Recife… Sofri inúmeras tentativas de assalto assim, mas sentia que a rua era minha e não deixava de estar andando na rua de madrugada. E é de madrugada que tudo acontece. Foi difícil largar isso, faz poucos anos que eu deixei de ser notívago.”
Após o encontro com Jailson, Jefferson e Fagner tive a oportunidade de conversar com Jonathas de Andrade sobre algumas contradições em suas obras. E ele foi bastante elucidativo: “É claro que você pode entrar, muito fácil, em confusões de poder, entre jogos narrativos. Como autor, eu, privilegiado, posso manipular as narrativas. Tudo isso traz enormes riscos, e na minha trajetória até aqui aprendi muito sobre isso. No entanto, lançar-se sobre o risco da contradição é diferente de você ser confundido como um porta-voz das pautas de outrem. Não quero falar pelo outro, mas sim falar com o outro”.

Confrontando a dimensão do desafio em que está imerso, Andrade comenta: “Eu venho de um lugar de privilégios, e nesse encontro eu posso construir empatia e reconhecer isso para fazer da minha obra um canal de ampliar a sensibilidade de outras pessoas em situação de privilégio, como costumam ser as pessoas que vão até os museus… Eu acredito na arte como um lugar de absoluta pedagogia radical, eu acho que existem várias formas da arte existir, e várias funções da arte, inclusive, por onde o trabalho navega. E ele pode ser uma arte mais utópica, que aponta para reparações históricas, que aponta para reescritas nas narrativas conhecidas hegemonicamente. Ou que pode ser ela mesmo lugar de construção de dúvida, uma arte que construa e provoque criticidade nos pondo a pensar sobre o que é realidade, o que é verdade, ou o que é mentira. E que hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa desse discernimento. O tempo todo precisamos construir espírito crítico de maneira afiada. Eu vejo que a arte pode ser uma espécie de capoeirista… É uma arte que faz a gente assistir e ter que entender se aquilo ali é sobre uma luta ou sobre uma dança. Se a gente está dançando junto ou se tenho que duvidar, me lançar a duvidá-la, debatê-la.”
É inegável que há um debate importantíssimo ocorrendo no Brasil, e no mundo, a respeito desse processo. Sobre a urgência e necessidade dos corpos protagonistas das obras serem eles próprios seus proponentes. De inúmeras maneiras esse debate foi e está sendo alavancado, e o termo e ideia de “lugar de fala” ganhou espaço nas discussões entre diversos grupos sociais brasileiros. Provocado sobre essa questão, Andrade se coloca da seguinte maneira: “Esse é um debate importantíssimo, pois, inclusive, quem é que pode falar sobre o quê? Sobre o que me compete falar? O que me convém? A mim só me compete falar sobre minhas próprias narrativas ou eu posso costurar narrativas? Mesmo quando estamos em sociedade, e os meus próprios privilégios se constroem ou reforçam, endossando a exclusão dessas populações? Não mexer nessas pautas mantém os privilégios de uma sociedade excludente. Como é que eu não vou fazer desse um assunto meu? Eu não posso me dar a esse luxo, por mais que uma narrativa dos moradores de rua feita por eles mesmos seja inegavelmente urgente, necessária e importantíssima. Acho que nunca, historicamente, esteve tão evidente isso tudo para a gente.”
E ele continua: “Não podemos lançar mão de espaços e ocasiões em que possamos fazer um encontro, como forma de construir os exercícios narrativos, subjetivos e emocionais sobre o mundo. Pois esses são lugares onde se faz transformação. São lugares de absoluto crescimento coletivo. Acho que a gente deve fazer, coletivamente, tudo isso. Desenhar e criar novas narrativas, novas saídas para esse país. Tomar consciência de nossas próprias dores, sobretudo em se tratando de você estar historicamente em lugares de privilégio, tomar consciência dessas feridas, desse lugar de exclusão, é que faz a gente exercitar horizontalidades possíveis. E na arte esse pode ser um exercício constantemente falho, uma constante tentativa e erro, porque ele não pode ser total, ele é sempre desbalanceado. Mas esse exercício, diante de um confronto com a violência estrutural, e as diferenças estruturais das classes nesse nosso país, é um exercício impossível. Mas é também o que faz dele exatamente algo extremamente potente… Então eu me recuso a fazer uma arte que seja somente sobre meu umbigo, entende? Pois o meu umbigo é lidar com o aqui e agora, é lidar com o embrulho do que é viver em um país com brutal exclusão. Agora, é claro que é um risco gigantesco, pois é fácil entrar num tom errado, ser violento na maneira de retratar, e ser insensível com uma fragilidade do outro é uma coisa muito possível de acontecer.”
Durante a conversa com Jonathas de Andrade rememorei falas arrebatadoras da tarde com Jailson e seus companheiros de luta, que resumiram um bocado, ou quase tudo, do que vimos, ouvimos ou lidamos diante da experiência dos corpos com os quais o artista tem feito questão de trabalhar ao longo de sua trajetória.
Jailson me disse: “O corpo da rua é um corpo maloqueiro. O corpo que é maloqueiro pode estar sem lugar pra ir, sem destino, mas é alegre. Você não tem o necessário, o básico, mas você vai desenrolando, você vai conquistando, vai pedindo, vai arrumando… Conquistando, pedindo, arrumando, conseguindo, então, assim… Ser maloqueiro é saber lidar com toda essa adversidade da vida mesmo, essa realidade nua e crua que você tem que sobreviver com o repentino, com o que vem de repente. Assim você vive vivendo isso, vivendo repentinamente de repente, e vai vivendo vendo o que vai acontecendo, e vai existindo e vai continuando e vai-se embora… É uma forma resistente danada de viver e é como estar na rua.”

E Fagner emenda: “É como se fosse uma atividade de atleta mesmo… Eu conheci um cara que vivia indo até São Paulo a pé, e voltou e foi de novo, e voltou, e mostra as facadas, as marcas da rua… E você vê que, principalmente, os jovens, o corpo, é sempre movimento na rua. Ele foge, ele pula, ele escala, ele vai arrancar as coisas, ele vai pular telhado, é um cross fit”, é o que a classe média tem dificuldade… E o corpo da rua sem comer direito, com pouco, consegue manter o corpo em movimento, consegue não… precisa! Precisa manter o corpo em movimento para poder sobreviver, para sua sobrevivência.”
Jefferson: “Tem momentos que o cara está alegre, o cara fez uma ôia, ganhou uma michariazinha, e se ajuda, porque sempre tem dois ou três ou quatro ali para a gente ajudar, partilhar, ou mesmo uma companheira… E aí a gente se diverte, vai na praia, toma uma cachaça, quem usa droga compra a sua droga, é a diversão do cara… E aí tem o momento que você se sente só, o momento de se sentir só. Triste. A hora que eu mais me sentia só, quando eu não estava doidão, era o horário que ia escurecendo e que eu via as lojas fechando… Era porque todo mundo estava indo para suas casas e eu não tinha para onde ir. Hoje em dia quando chega essa hora e eu estou com minha esposa indo pra casa eu digo a ela.”
Por fim, Jailson retoma: “O corpo da rua é um corpo que pode até ser mais fraco, mas ele se torna mais forte, porque a sobrevivência exige isso… Porque ele vive no limite, em busca da sobrevivência. Porque morrer é muito fácil, difícil é sobreviver.”
Jailson e seus companheiros são um tanto desse Brasil que sobrevive. Que à revelia (re)existe e se reinventa enquanto narra e se entende como esse corpus maloqueiro, vivendo das contradições e violências intrínsecas a seus cotidianos e experiências sociais – de um Brasil nordestino potente, desigual e controverso.
A obra de Jonathas de Andrade existe na confluência e por entre as frestas das contradições a que estão submersas as vidas de suas atrizes, atores, colaboradores e parceiros, pessoas brasileiras que vivem sob a máxima do “Morrer é muito fácil, difícil é sobreviver”. Que se entrecruzam e se engalfinham nas obras, experiências e trajetórias expostas no trabalho do artista e nos grupos sociais que colaboram com ele. ///
+
[1] Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, plataforma do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais (POLOS-UFMG). Em dezembro de 2021, segundo cadastros no CadÚnico, eram 158.191 pessoas vivendo nas ruas do Brasil.Esta entrevista foi realizada em colaboração com a Trigger e será publicada em janeiro de 2023 na edição impressa da revista belga.
Marília Nepomuceno Pinheiro (Recife – PE) é uma mulher-cisgênero negra, afro-indígena (lida também como parda) e mãe de duas crianças. Articuladora e produtora cultural, educadora popular, técnica em agroecologia, pesquisadora das Ciências Sociais (UFPE) e mestre em Antropologia (PPGA/UFPE).