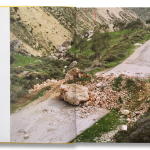Entrevista: o britânico Julian Stallabrass conversa sobre as imagens da guerra e a guerra de imagens
Publicado em: 6 de maio de 2022

Mulher ucraniana e seu filho olham pela janela do trem que chegou da Ucrânia na estação de trem de Przemysl, na Polônia. Crédito: Attila Husejnow / SOPA Images/ Si/ Fotoarena
Na semana em que o exército russo se retirou parcialmente de localidades próximas a Kiev, quando vieram à luz as imagens mais difíceis de se ver da guerra até agora, mostrando mortos civis e militares, conversei com o fotógrafo, curador e historiador da arte britânico Julian Stallabrass sobre fotografia de guerra a partir do seu livro Killing for show – Photography, war and the media in Vietnam and Iraq [Matar para mostrar – fotografia, guerra e a mídia no Vietnã e Iraque], publicado em 2020. Doze anos antes, Stallabrass fez a curadoria da Bienal de Brighton. Com o título Memory of Fire: Images of War and the War of Images [Memória de fogo: imagens da guerra e a guerra de imagens], a série de exposições teve por tema a fotografia de guerra em suas várias manifestações e temporalidades, desde a Primeira Guerra Mundial até o Afeganistão. A partir de então, Stallabrass dirigiu sua perspectiva marxista para a fotografia documental e de guerra.
Não são fáceis de ver as fotografias vindas da Ucrânia, que nos mostraram em imagens o que conhecíamos até então apenas por palavras. Killing for show também não é fácil. A escrita é fluida e inteligente, e isso torna mais impressionante a sucessiva descrição de eventos catastróficos e a interpretação de suas representações fotográficas nas guerras do Vietnã e do Iraque. Ao transitar por estes dois marcos tanto históricos quanto imagéticos – duas guerras de invasão lutadas a partir de pressupostos racistas e preconceituosos, que presenciaram o uso de inovadoras tecnologias de captação e circulação de imagens – Stallabrass apresenta uma pesquisa aprofundada, que toma proveito do distanciamento temporal necessário para um olhar mais alargado sobre os eventos. A dureza do tema é então fundamental para provar um dos objetivos principais do livro: a de que a representação fotográfica está absolutamente interconectada com as estratégias militares, as macro políticas e a cultura visual de cada período, dependendo de uma adequação às grandes narrativas para sua circulação e interpretação.
Partindo do trabalho de fotojornalistas famosos, mas também de fotógrafos locais, desconhecidos, amadores, e por vezes anônimos, para oferecer uma interpretação minuciosa do papel da fotografia nas práticas de guerra, Killing for show conversa com teorias recentes sobre o contrato social estabelecido por meio da fotografia, estudos sobre as noções de memória e velocidade em relação a imagens e também a noção de imagens icônicas. O livro sai do lugar comum de uma história da fotografia de guerra centrada na enumeração de fotógrafos-autores, e nos oferece uma nova proposta de historiografia em que a imagem fotográfica existe em uma complexa rede de poderes, pessoas, tecnologias e instituições.
A conclusão que o leitor pode tirar ao final do livro me parece semelhante à que surge ao final da conversa que tive com o autor. Ainda que não seja fácil, é necessário encarar essa longa história do sofrimento humano causado pela guerra e representado pela fotografia para que a história finalmente pare de se repetir.
Eu fiquei pensando em como, no livro Killing for show, você analisa as relações entre tecnologias fotográficas e tecnologias de guerra disponíveis, primeiro no Vietnã e depois no Iraque. Acho que essas relações são um dos principais aspectos da história da fotografia de guerra, e exemplos de como os fotógrafos estiveram presos entre uma coisa e outra durante a Guerra Civil Americana, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola vêm à mente como predecessores da era de altíssima tecnologia inaugurada pela Guerra do Vietnã. Você poderia, por favor, falar um pouquinho sobre como essas relações entre tecnologias de imagem e de guerra impactaram ou se manifestam nas fotografias que chegam até nós, como observadores, desde o Vietnã, e se você acredita que isso causou grandes mudanças nas mensagens transmitidas pelas fotografias?
Julian Stallabrass: As diferenças são profundas, é claro. Na Guerra do Vietnã, câmeras eram, em grande medida, aparelhos ópticos mecânicos que exigiam um tanto de habilidade para serem operados, em especial em condições perigosas e fora de controle; as imagens de jornal eram enviadas por redes de rádio que não transmitiam à noite e podiam ser interrompidas pelo clima (ou, no Vietnã do Sul, pela censura do governo), e o processo era tão lento que só se podia enviar algumas imagens por dia; as Forças Armadas estadunidenses usavam, sim, computadores para a análise de dados, mas eles eram pilotados por operadores altamente capacitados e ocupavam salas inteiras. Então, o cenário hoje é de certo modo irreconhecível: que (quase) todo mundo tenha câmeras acopladas em seus aparelhos de comunicação e possa produzir e enviar quantas imagens quiser; que essas câmeras automatizem e intervenham nos processos de captação e produção de imagens; que a própria máquina de guerra esteja completamente saturada pela computadorização e dedicada à manipulação das comunicações, venha isso do campo de batalha, da mídia ou de gente comum.
Aquilo que se chamou de “Revolução nos Assuntos Militares” foi posto em prática pela primeira vez, no Afeganistão e no Iraque, em 2002-2003, e se tratava da ambição de integrar por completo operações militares e a coleta, transmissão e análise de dados, incluindo a primazia da mídia para fabricar boa publicidade e intimidar o inimigo. Isto de fato mudou as imagens produzidas e vistas, porque algumas operações militares foram conduzidas especificamente para a mídia: a demonstração mais nítida disso foi a gigantesca cena armada [photo-op] com que a Guerra no Iraque se iniciou: a operação Choque e Pavor, com bombardeios e ataques a míssil a Bagdá. Na noite de 21 para 22 de março de 2003, bombardeiros e mísseis de cruzeiro alvejaram edifícios do governo em um ataque espetacular, encenado para os representantes da mídia mundial. Jornalistas foram reunidos na torre do Palestine Hotel, com uma ampla vista da margem oposta do Tigre, na qual se concentram muitos edifícios governamentais. Diante de suas lentes, as forças estadunidenses exibiam a destruição que eram capazes de causar a um inimigo, em uma demonstração extravagante e feroz na qual 1.000 alvos foram atingidos por bombas e mais 600 por mísseis de cruzeiro. A ideia era desencorajar as forças adversárias – e foi exatamente esse o efeito.
Bem, esse é um dos lados. Há outro, porém: fotógrafos de guerra há muito tempo mantêm um caráter fortemente genérico, e há aspectos da vida do exército – ou aquilo que as armas fazem em edifícios, ou como civis agem sob bombardeio ou tentam fugir dele, ou a aparência de mortos e feridos, ou como soldados posam com armas – que mudam pouco. Vemos isso em muitas das imagens que chegam da guerra na Ucrânia, que têm uma familiaridade sinistra, embora tenham sido tiradas por celulares e câmeras digitais, transmitidas quase em tempo real e são rapidamente enfiadas em operações de propaganda. Parte dessa familiaridade pode ser decepcionante, como ocorreu com os fotojornalistas que buscavam ecos do Vietnã no Iraque, com suas circunstâncias tão diversas, sendo que a semelhança visual mascara profundas diferenças em tecnologia fotográfica, operações militares, circunstâncias políticas e sociais. Parte do que eu tento fazer no livro é elucidar essas circunstâncias e inquirir as imagens sem amarras de gênero e em sua própria particularidade.
Este ponto é interessante, o de que fotógrafos têm outras imagens como referências visuais. Nesse sentido, outro aspecto muito interessante da relação entre visualidade e tecnologia que você aponta no livro é o de que não apenas imagens de guerra inspiraram e ajudaram a dar forma a filmes e videogames (no caso do Iraque), mas também o contrário. Filmes e videogames tiveram um papel em moldar a guerra. Isso me fez pensar no conceito dialético de cultura visual proposto por autores como W.J.T. Mitchell, para quem há uma construção social da visualidade, mas também uma construção visual do campo social. Como podemos articular a noção de “matar para mostrar” com essa via de mão dupla?
JS: Eu usei a expressão “matar para mostrar” para descrever como aqueles que usam a força letal produzem imagens de suas ações ou fazem com que elas sejam produzidas, e como eles as direcionam para fins militares e de propaganda política. Um de meus primeiros exemplos é um vídeo da Royal Air Force britânica (RAF) de um míssil “inteligente” muito caro explodindo uma picape no Iraque em 2004: isso foi encenado, em primeiro lugar, para que o governo britânico (na esteira da infame derrota de suas forças terrestres) pudesse fingir que estava realizando ações efetivas, ao criar um filme snuff de alto orçamento.
Essa via de mão dupla de que você falou é, acredito, muito mais de mão dupla do que costumava ser, embora o efeito sempre tenha existido. A fabricação do heroísmo da Segunda Guerra Mundial por John Wayne acompanhava o pensamento de muitos soldados estadunidenses no Vietnã e influenciava seu comportamento – especialmente quando havia câmeras por perto –, às vezes com consequências fatais para o ator. Conforme mais e mais pessoas ganham familiaridade com as mídias – como produtores, e não apenas como consumidores –, o efeito é muito reforçado. No conflito líbio, por exemplo, as ações de muito combatentes são, à primeira vista, espantosas: rebeldes se postavam em campo aberto disparando metralhadoras automáticas para o lado das forças do governo. Isso pode ter sido consequência da falta de treinamento militar, mas também foi uma performance consciente para as câmeras, inspirada no clichê hollywoodiano e nas imagens fotográficas de qual deveria ser a cara de uma guerra. Eles buscavam criar imagens que seriam vistas em casa e no exterior, praticamente em tempo real. Dado que a sobrevivência dos rebeldes dependia da intervenção estrangeira, o risco mortal de ajudar a produzir essas imagens valia a pena – eram agentes de guerra mais efetivos que as balas. Trata-se de algo que a obra de Ariella Azoulay, especialmente The Civil Contract of Photography [O contrato civil da fotografia], capta de maneira tão brilhante: o de que os sujeitos conscientemente reivindicam seus direitos por meio da performance em imagens.

Um soldado russo caminha em meio aos escombros no lado leste de Mariupol, onde a luta feroz entre as forças da Rússia e a Ucrânia continua. Crédito: Maximilian Clarke / SOPA Images / Fotoarena.
Isso confunde, em certo sentido, as fronteiras entre realidade e ficção, ou se trata de um jogo mais sofisticado com as tradições ocidentais da representação visual?
JS: Não é apenas a sofisticação das imagens que alimenta o efeito. Enquanto imagens documentais eram retroalimentadas bem rapidamente por seus temas de interesse, por meio de jornais, revistas e da televisão, algo diferente ocorreu com as narrativas influentes do cinema. Levou bem uma década desde o auge do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã até que o ethos e o visual do fotojornalismo do conflito encontrasse um espaço ficcional no cinema. As cores que Coppola usou em Apocalypse Now (1979) foram tiradas de Larry Burrows e Tim Page, junto com o entusiasmo pelo armamento de alta tecnologia. O ataque com helicóptero a uma aldeia, ao clangor da Cavalgada das Valquírias de Wagner (um apropriado toque de fascismo), segue sendo um sucesso nos preparativos para missões, visando avivar nas tropas o desejo por sangue. Nascido para matar, de Kubrick (1987), inspirou-se na perspectiva mais sombria do Vietnam Inc. de Philip Jones Griffiths, não apenas no visual como na perspectiva geral de uma guerra travada para forçar o consumismo em uma cultura remota e estrangeira: a cena final mostra as tropas estadunidenses marchando em meio à devastação que elas causaram, cantando sobre Mickey Mouse. Já no Iraque, as tropas podiam jogar jogos que chegavam próximo do cenário e do ambiente de guerra; e, em 2008, podiam assistir à série televisiva da HBO Generation Kill, baseada no jornalismo incorporado [embedded journalism] de Evans Wright e que contava com ex-fuzileiros navais no elenco. Dado que o comando estadunidense também estava ordenando às tropas que armassem cenas [photo-ops] para a mídia e planejando suas operações de modo que constituíssem narrativas dignas de Hollywood (tais como o “resgate” de Jessica Lynch de iraquianos que estava cuidando de seus ferimentos), o efeito se torna ainda mais forte. Em suma, há uma rápida circulação de material entre fotojornalismo, televisão, cinema e jogos digitais que cria uma visão ideologicamente falseada e intensamente naturalista da guerra.
Contudo, é preciso dizer, ainda, que essa sala de espelhos, no sentido de Baudrillard, não estava imune às realidades da oposição e das contingências. Operações “heroicas” e fotogênicas foram sucessivamente aleijadas por ataques de assalto e bombas caseiras. As tropas estadunidenses ficaram cada vez mais presas em suas bases e seus veículos blindados; o fotojornalismo ocidental foi varrido das ruas por uma multidão hostil; e, acima de tudo, havia a política iraquiana – sobre a qual esses atores eram ignorantes em grande medida, e de forma deliberada –, que definiu o decurso dos eventos em maneiras que iam além do poder dos ocupantes e de suas tentativas de forjar a realidade conforme suas representações.
Do jeito que você acaba de descrever, a noção de “matar para mostrar” pressupõe o ponto de vista do perpetrador e as narrativas que ele cria. No livro, você mostra como, em décadas recentes, essas narrativas são especialmente marcadas pelo neoliberalismo, privilegiando o lucro em detrimento da informação confiável. No entanto, o livro também parece afirmar a crença na capacidade da fotografia para promover a mudança. Como você acha que isso pode acontecer? E qual seria o papel do fotógrafo como indivíduo? Quais são os limites de sua agência?
JS: Sim, “matar para mostrar” é uma tática dos perpetradores – dos Estados, acima de tudo, mas também de todos aqueles que recorrem à violência para obter efeitos políticos, inclusive grupos terroristas. E sim, parte do que o livro faz é mostrar os efeitos do neoliberalismo sobre a mídia, a política e também as forças armadas, bem como sua tendência a reduzir as possibilidades de resistência e sua produção e publicação de imagens que iriam na contracorrente da ortodoxia. No entanto, espero ter sido cuidadoso em não romantizar a era da Guerra do Vietnã: devemos nos lembrar de que boa parte da mídia nos Estados Unidos, durante a maior parte do conflito, deu apoio irrestrito à guerra, e mesmo à estratégia de destruir o campesinato – ou seja, do genocídio. Também há o fato de que o movimento antiguerra nos Estados Unidos fracassou: as forças armadas estadunidenses foram retiradas por sua inabilidade em ganhar e pelos enormes custos dos esforços de guerra, e não pela opinião pública. Nixon foi eleito e reeleito com os objetivos de causar a maior destruição possível com bombardeios e de gradualmente passar a condução da guerra aos vietnamitas do sul. Os efeitos do fotojornalismo e da cobertura midiática, de modo geral, resultaram em enorme divisão nos Estados Unidos, rachando a sociedade ao meio, e não devemos nos esquecer disso, mas no fim das contas o movimento antiguerra fracassou. Quando lemos o Sobre a fotografia de Sontag, e suas palavras mordazes a respeito dos efeitos viciantes, ainda que politicamente impotentes, das imagens de horror, é esse contexto que precisamos ter em mente.
Do mesmo modo, a guerra neoliberal não seguiu exatamente o planejado. Donald Rumsfeld pensou que a guerra contra o Iraque seria um conflito rápido e barato, em razão do uso de sistemas digitais e armas de alta tecnologia – uma guerra que os Estados Unidos poderiam replicar quantas vezes quisessem para manter Estados párias na linha. Como sabemos, ela levou a uma espiral em que as forças estadunidenses e britânicas eram os policiais odiados de um grotesco Estado falido, em que precisavam alimentar um conflito sectário de modo que os iraquianos lutassem uns contra os outros e, assim, fizessem menos pressão contra a ocupação, e no qual os poderes constituídos eram tão incompetentes e corruptos que muitos bilhões de dólares destinados ao desenvolvimento evaporaram sem que houvesse qualquer melhoria nos serviços básicos necessários à saúde e à garantia da vida. Mais que isso, “matar para mostrar”, que é sempre um estratagema de risco, o é ainda mais na era digital: as imagens circulam fora dos circuitos oficiais, são reaproveitadas, relegendadas, reeditadas e usadas das mais variadas maneiras. O que de início é lido como um exercício virtuoso do poder pode depois ser lido como mostra de uma atrocidade. O livro é um apelo – e uma demonstração, espero – para que as imagens fotográficas sejam lidas em detalhe, a fim de ativar seu potencial latente e contra-hegemônico de resistência. Isso é verdade até mesmo para as fotografias que foram produzidas pelos perpetradores.
Falando ainda da ideia de uma narrativa mais ampla com as quais as fotos devem se alinhar, quando eu estava lendo seu livro, não pude deixar de fazer paralelos com a guerra em curso na Ucrânia. É possível ver que muitas das ações que Putin está tomando agora, e que levaram o presidente estadunidense Biden a chamá-lo de criminoso de guerra (tais como o uso deliberado de civis como alvo, o uso de armas banidas por acordos internacionais, a perseguição de jornalistas) foram todas usadas pelos Estados Unidos nas guerras que o país promoveu. Como você vê as diferenças na representação visual da guerra, quando o agressor está do outro lado da narrativa?
JS: Desde a catástrofe no Iraque, as guerras têm, de modo geral, se assentado no padrão de conflitos civis de menor escala e maior duração, nos quais os civis são as principais vítimas, tornando-se um recurso a ser explorado e negociado politicamente. Na Líbia, na Síria, no Iêmen e na República Democrática do Congo, por exemplo, guerras mantidas por forças terceiras [proxy forces] delegadas por grandes potências têm parecido intermináveis, obscuras e sem heróis (ou sem vilões) óbvios. Muitas vezes, as imagens que elas geram têm pouco potencial de venda na mídia ocidental.
Assim, o conflito na Ucrânia caiu como um raio em céu limpo: uma nação europeia invadida por um enorme exército convencional. Há paralelos com o Iraque, pois a guerra não é referendada pela ONU, e de fato porque armas odiosas, como bombas de fragmentação, munições termobáricas e fósforo branco, foram usadas em áreas construídas. Há duas enormes diferenças, porém: a primeira é que, enquanto no Iraque a população se voltou contra a mídia, vista como propagandistas entusiasmados dos ocupantes, na Ucrânia uma multidão sofisticada, sintonizada com a mídia, claramente percebe que pode se beneficiar das imagens e colabora de bom grado com seus produtores. O resultado é que o conflito registrou um afluxo de fotojornalistas conhecidos, incluindo Lynsey Addario, Ron Haviv, Chris McGrath e Aris Messinis, que trabalham lado a lado de locais como Mstyslav Chernov e Mikhail Palinchak e de fotógrafos regionais em sentido mais amplo. A segunda é que a Rússia mal admite que esteja lutando em uma guerra, com sua propaganda em grande parte limitada pela dissimulação e pela repressão. Diante de imagens de destruição e massacre generalizados, ou do bombardeio de maternidades em Mariupol, ela se limitou a alegar que as imagens são falsas.
Muitas das imagens profissionais feitas na Ucrânia enfocam as condições dos civis, e o fazem a partir de uma perspectiva humanitária simples. Pessoas se abrigam em subterrâneos ou vasculham as ruínas de suas casas; refugiados vulneráveis fogem com a ajuda de soldados (e, em um subgênero, olham pelas janelas de ônibus e trens); gente em luto é fotografada em funerais; feridos são vistos em hospitais; monumentos culturais e construções religiosas estão sob ameaça ou avariados. Apesar de seu caráter genérico, essas fotografias são, é claro, extremamente perturbadoras. Elas fazem o que os fotógrafos sempre fazem bem: atestam a presença de pessoas nesse lugar, nesse momento e nessas circunstâncias particulares. O fluxo de imagens com essas em meios impressos e, com maior frequência, em sites e redes sociais suscitam, acima de tudo, uma resposta emocional, como se pode perceber de imediato na maioria dos comentários no Instagram e em outras plataformas. O perigo é de que, talvez, tudo isso recaia na política gestual do humanitarismo das ONGs: um mundo de vítimas às quais, apesar de jogadas em situações intoleráveis e intratáveis na ordem mundial maciçamente desigual, é preciso conceder dignidade, mesmo que apenas na fotografia. E isso ao mesmo tempo que certos políticos, como Gordon Brown, que conduziu as finanças do último governo trabalhista britânico e esteve, portanto, implicado de maneira decisiva na guerra no Iraque, clamam que Putin seja julgado por crimes de guerra. Como muitos apontaram, parece que algumas vítimas valem mais que outras.
Quando você diz que fotografias podem mudar o significado (de um exercício virtuoso de poder à amostra de uma atrocidade, por exemplo), fica claro que a premissa do livro foge da maneira habitual de apresentar a fotografia de guerra, centrada na noção do fotógrafo como autor. Então, a agência do fotógrafo ou da fotógrafa é apenas um aspecto envolvido na interpretação de seu trabalho. E, é claro, a noção de autoria se enfraquece conforme avançamos para a era das redes sociais, com milhões de anônimos produzindo e compartilhando imagens. Algumas pessoas têm chamado a guerra na Ucrânia de “primeira guerra do TikTok”. Acredito que está claro que a cobertura das redes sociais não substitui a cobertura de guerra profissional, mas me pergunto que tipo de impacto ela causa. O que quero dizer é que me pergunto se as políticas internas das grandes empresas de redes sociais sobre o que é permitido compartilhar nelas podem entrar como uma camada adicional nos muitos aspectos que escapam à agência do fotógrafo no que diz respeito à interpretação das fotografias.
JS: Eu já mencionei Azoulay, e uma das coisas que me parecem muito proveitosas na obra dela é a maneira como ela vê o autor fotográfico como parte de uma rede que também envolve os fotografados, a tecnologia fotográfica, os editores e publicadores, e, evidentemente, os espectadores. As relações de poder estruturam a rede em diversas maneiras, nem sempre de maneira vantajosa para o autor – na indústria do fotojornalismo, certamente não. Às vezes, Azoulay menospreza essas relações de poder, e certamente há circunstâncias que são uma prova dura à sua afirmação dos direitos de cidadania por meio da fotografia – como no Vietnã rural, em que as relações de poder entre tropas, jornalistas e camponeses eram grotescamente desiguais, e muitos camponeses tinham pouco conhecimento do que os fotógrafos podiam fazer. Mas a “guerra do Tik Tok” é um caso ideal: um público sofisticado, sintonizado com as mídias, faz e defende suas reivindicações em fotografias e vídeos no momento em que se encontra sob ataque de uma potência que usa a violação de seus direitos – e suas próprias vidas – como alavanca para seu proveito geopolítico.
Tais imagens não têm dono, como diz Azoulay: copiadas, reeditadas, relegendadas e redistribuídas em múltiplas plataformas. Elas se tornam objeto de muito ceticismo, que é frequentemente justificado, dado que as imagens das redes sociais são muitas vezes falsificadas ou atribuídas de maneira enganosa, e todas as principais nações têm braços de propaganda política, operações psicológicas e propaganda “negra” bem financiados. E, é claro, a tática russa de lançar na mídia uma densa cortina de fumaça – afirmações para distração, contraditórias – parece ser efetiva, ao menos na própria Rússia. Em muitos dos conflitos que se seguiram ao Iraque, dada a persistência da profunda hostilidade à mídia vista ali pela primeira vez, e dado que a cobertura deles é muito perigosa, frequentemente sobra aos amadores locais a tarefa de produzir imagens, e muitas delas caem no abismo do ceticismo fotográfico.
A Ucrânia é certamente atípica porque você tem a “guerra do TikTok” e muitos fotojornalistas profissionais trabalhando ao mesmo tempo, e os feeds das redes sociais mal distinguem uma coisa da outra. Em certo sentido, o que o fotojornalista oferece é uma garantia institucional de que a imagem não será manipulada para representar eventos de maneira distorcida nem será atribuída erroneamente. Isso dificilmente bastaria para satisfazer os céticos, que com razão dizem que a manipulação também ocorre na seleção e justaposição dos temas, no enquadramento e nas escolhas estilísticas. Também há “autores” reconhecidos, como Lynsey Addario, trabalhando na guerra na Ucrânia, e eles emprestam sua autoridade pessoal à recepção de suas imagens. E há outros, como os fotojornalistas ucranianos Mstyslav Chernov e Evgeniy Maloletka, que realizaram um trabalho notável sob circunstâncias de alto perigo em Mariupol. No entanto, o caráter genérico da fotografia de guerra também se afirma, e o amplo fluxo de imagens fotográficas é usado para impulsionar o ponto de vista político dos Estados Unidos e dos países da Otan, que, é claro, dizem que o único uso legítimo da força é o que eles mesmos fazem. Assim sendo, é evidente que a agência dos autores fotográficos e daqueles que aparecem em suas imagens está sujeita a essas estruturas de poder e de propaganda mais amplas. Entre elas, como você diz, há aquela dos monopólios das redes sociais: o que o fluxo das imagens de guerra significa para eles? Apenas mais uma forma de conteúdo emocional altamente carregado, que pode ser usado para estimular espectadores a chegar a um ultraje maior e a um engajamento mais profundo, de modo a prender a atenção deles aos anúncios. É incrível que esse aparato vasto e sofisticado de conexão e manipulação seja mobilizado apenas com o fim de fazer as pessoas comprar mais coisas. Como sabemos, os monopólios não se importam com qualquer efeito colateral, desde o adoecimento mental generalizado até os violentos conflitos civis. A marcha rumo a uma guerra mais ampla pode ser apenas mais um desses efeitos. ///
Erika Zerwes é doutora em História pela UNICAMP. Especializada em história da fotografia, é autora do livro Tempo de Guerra. Cultura visual e cultura política nas fotografias dos fundadores da agência Magnum e co-autora de Mulheres Fotógrafas/Mulheres Fotografadas. Fotografia e gênero na América Latina e Cultura Visual, Imagens na Modernidade, finalista do prêmio Jabuti. Atualmente é fellow no programa conjunto do DfK – Paris e MIAS/Casa de Velazquez – Madri.
Tags: Fotografia de guerra, fotojornalismo, Guerra da Ucrânia, Guerra do Iraque, Guerra do Vietnã