Deep Nostalgia e o falseamento profundo da história pelas IAs
Publicado em: 10 de março de 2021
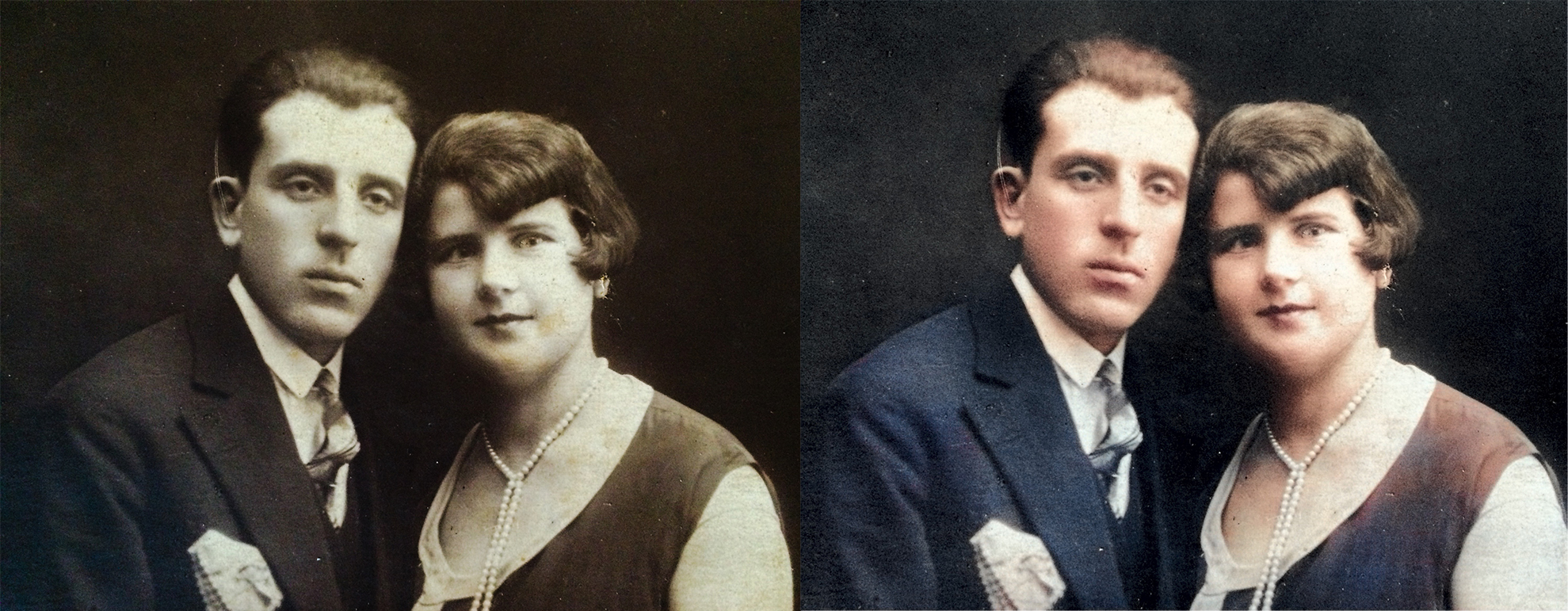
Imagem dos avós da autora (circa 1916) com colorização retrospectiva feita com IA no aplicativo MyHeritage que usa tecnologia DeOldify.
Há uma febre de aplicativos para tridimensionalizar, colorizar, animar fotos antigas e dar “vida” ao passado. Loopsie, Colorize e Deep Nostalgia são alguns deles. Todos funcionam bem. Rápidos e fáceis de usar, escondem um meticuloso trabalho com Inteligência Artificial. Acontece, porém, que a história tratada como gadget é um problema. Os resultados obtidos usando cada um desses aplicativos são sempre muito parecidos. Em consequência, nos vemos diante de um emergente conjunto de passados fictícios e muito semelhantes: felizes e “liberados” dos supostos defeitos do tempo. Melhorias na qualidade das imagens apagam dobras e manchas causadas pela idade; enquanto colorizações retrospectivas deixam tudo e todos com uma paleta que oscila entre cores pastel e tons outonais.
Em todos esses softwares o processamento das imagens é feito a partir de técnicas de deep learning que, por meio de redes neurais, transferem estilos e comportamentos para as imagens. Para tanto, dezenas de milhares de imagens são usadas para treinar os algoritmos que dão cor, movimento e profundidade às fotos e vídeos que inserimos em cada um desses aplicativos. No caso do “viral do momento”, o Deep Nostalgia, que teve mais de 60 milhões de downloads logo após o lançamento em 27 de fevereiro, fotos antigas, de antepassados a personalidades históricas, ganham expressões que vão de piscadas a giros de cabeça, passando por sorrisos e olhos arregalados. No passado ninguém chorava? Ninguém ficava triste?
Obviamente que sim. Mas o “cardápio” de movimentos é pré-definido e feito a partir de vídeos “contentes” gravados com funcionários da MyHeritage, a empresa que disponibiliza o Deep Nostalgia, desenvolvido pela israelense D-Id, especializada em tecnologia de reencenação facial. Importante sublinhar que todo o processo está a anos luz de distância de tradicionais recursos de pós-produção e edição. Estamos falando de procedimentos de aprendizado de máquina em que os algoritmos são programados para reconhecer padrões (como a geometria das linhas do rosto, os movimentos labiais e até a voz) e então transferi-los de uma imagem a outra.
Expliquei mais detalhadamente esse processo de entender o que são e como funcionam os deepfakes em um artigo sobre deepfakes publicado na ZUM #18. Basicamente são imagens produzidas com Inteligência Artificial, utilizando aprendizagem de máquina para substituir, de forma automatizada, rostos e também usar vozes humanas sincronizados com movimentos labiais e gestuais. Alguns exemplos recentes são a mensagem de ano novo da Rainha Elizabeth, veiculada pelo Channel 4, e o perfil do TikTok que gera vídeos de Tom Cruise nas mais inusitadas situações.
No caso do Deep Nostalgia, a técnica retoma os princípios do deepfake, mas de forma ainda mais sofisticada. Seu algoritmo é construído com diversas redes neurais profundas, treinadas com datasets de muitos milhares de vídeos. Ao “encontrar” uma imagem inserida no aplicativo, o algoritmo busca um vídeo pré-gravado da sua base de dados e calcula um mapa de movimento para interpolar os seus pixels na foto estática. Um mapa de oclusão (os dados sobre a iluminação da imagem) “fabrica” as partes faltantes na foto, revelando dentes e a lateral da cabeça, entre outros aspectos que não estão presentes na foto original adicionada ao sistema. É essa odisseia computacional que produz, em segundos, a aparência natural das animações que tomaram conta das redes sociais na última semana.
Glitches e bugs a parte (os vídeos às vezes apresentam alguns elementos desajeitados, como borrões em rostos com barba e perda de foco), são comuns as reações de encantamento de milhões de usuários. Há também os que se sentem extremamente perturbados por essas imagens assombradas pela Inteligência Artificial. Os motivos de horror, geralmente, vêm da sensação de ver os mortos ganhando vida subitamente.
Acrescento a esse leque de sensações mais uma: o da perturbação frente à pasteurização da história. Muito embora não exista intenção de convencer ninguém que as fotos animadas sejam vídeos que ressuscitam gestos dos falecidos, não são poucos os usuários que acreditam que esse deepfake mimetize de fato um ente querido ou uma personalidade importante. A ilusão se torna ainda mais problemática pelo fato de que quanto mais se alimenta o sistema, mais ele aprende com seus próprios erros e se aprimora, diminuindo bastante eventuais falhas de processamento ainda apresentadas. Com isso, reconfiguram-se as posições na curva emocional de nossa relação com esse tipo de imagem e nos aproximando de seres artificiais.
Essa curva emocional é central a uma teoria estética da robótica, a do “vale da estranheza” (uncanny valley), de autoria do roboticista japonês Masahiro Mori, criador do ASIMO, entre outros robôs famosos. De acordo com essa teoria, entes tecnológicos parecidos com humanos tendem a gerar repulsa. Mas, paradoxalmente, quanto mais semelhantes eles são, tendem a gerar empatia. A teoria de Mori é dos anos 1970 e tem recebido várias atualizações para comprovar sua hipótese. Partindo desse ponto de vista, a relação com entes artificiais que ressurgem de um passado nunca ocorrido se torna ainda mais complexa.
O aprendizado de máquina é, substancialmente, a acurácia no estabelecimento e reconhecimento de padrões. O que não cabe no padrão é considerado ruído e descartado. Basta olhar para pelo menos três vídeos feitos com o Deep Nostalgia para notar que os movimentos são sempre os mesmos. Mas o que aconteceria se esse tipo de padronização maquínica se sofisticar ao ponto de ser culturalmente tomado como referência?
Há uma inequívoca tendência para o que chamo de eugenia do olhar embarcada nos processos de sintetização de imagens por IAs. E não é por acaso que os retratos compostos de Francis Galton (1822-1911), pai da eugenia, sejam tão semelhantes aos vetores que processam os algoritmos de Reconhecimento Facial (os eigenvectors, tema para uma outra coluna). Há também uma inegável possibilidade de consolidação de novos negacionismos, capazes de emplacar as mais estapafúrdias teses.
Esse, aliás, foi o mote da instalação In Event of Moon Disaster (No caso de um desastre lunar, 2019), criada por Francesca Panetta, diretora de criação do Centro para Virtualidade Avançada do MIT. Nela, o presidente Richard Nixon reporta, diretamente do Salão Oval da Casa Branca, o desastre ocorrido com a Apolo 11. Tal discurso foi escrito por Bill Saphire e seria lido no caso de um acidente com a missão lunar que, como se sabe, não aconteceu. Para sua obra, Panetta utilizou discursos anteriores de Nixon gravados em vídeo para transferir suas expressões faciais e movimentos labiais ao seu clone e, assim, sintetizar uma inédita peça audiovisual com sua voz, dicção e semblante, proferindo palavras que ele nunca disse sobre um fato que nunca ocorreu. Para além de sua impactante plasticidade, a obra funciona como uma alerta sobre os potenciais estragos dos deepfakes no plano do revisionismo histórico.
Há cerca de 20 anos, nos primórdios da febre retrô que tomou o design e o mundo do entretenimento, o crítico T. J. Clark escreveu que se antigamente as mercadorias vendiam promessas de futuro, hoje elas existem “para inventar uma história, um tempo perdido de intimidade e estabilidade, de que todo mundo afirma se lembrar, mas que ninguém teve.” Clark identificava essa necessidade de inventar um passado com uma crise do tempo, marcado pela “tentativa de expulsar da consciência a banalidade do presente” (Modernismos, 2007, p. 322-323).
Antes dele, Umberto Eco, em um clássico dos anos 1980, Viagem na irrealidade cotidiana, mostrava que esse tipo de movimentação pavimenta também “uma filosofia da imortalidade enquanto duplicação”. Como se não pudéssemos conviver com o passado e só fosse possível fazer sua cópia, não sua preservação pela memória.
Essas considerações são importantes porque situam esse fenômeno da nostalgia do que nunca fomos em um contexto mais amplo. Contudo, a “gadgetização” da história que aplicativos como Deep Nostalgia promovem aparece em um momento particular da pandemia. Nele se cruzam a aceleração do cotidiano pela digitalização da vida com a perda de horizontes do porvir plasmado pela resiliência da covid-19.
De um lado, forja-se o presente com um tempo assombrado pelo falso e pelo vintage, no qual o passado cumpre apenas a função de fornecer uma capa divertida ao agora. De outro, temos uma experiência do futuro que funciona como parênteses, uma bolha suspensa, impossível de ser conectada ao vivido. Nessa curiosa temporalidade tudo parece ser passível de ser recuperado e recompor-se ao sabor de um padrão configurado por uma IA. Que historiografia, que cultura visual está sendo escrita nas linhas de seus códigos e suas memórias de botox? ///
Giselle Beiguelman é colunista do site da ZUM, artista e professora da FAUUSP. Assina também a coluna Ouvir Imagens na Rádio USP e é autora de Memória da amnésia: políticas do esquecimento (2019), entre outros. Entre seus projetos recentes, destacam-se Odiolândia (2017), Memória da Amnésia (2015) e a curadoria de Arquinterface: a cidade expandida pelas redes (2015).
Tags: deep nostalgia, Deepfake, Inteligência artificial







