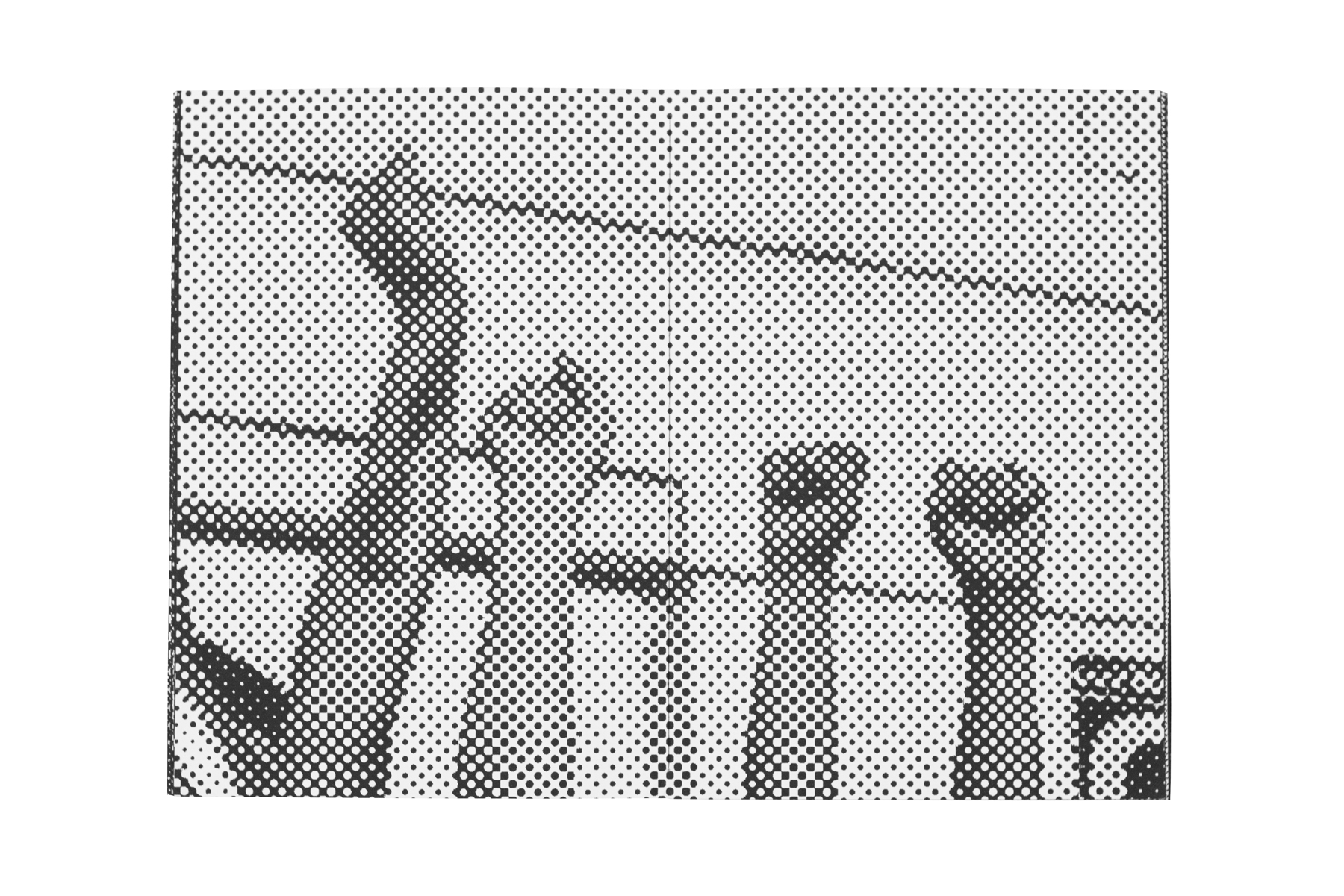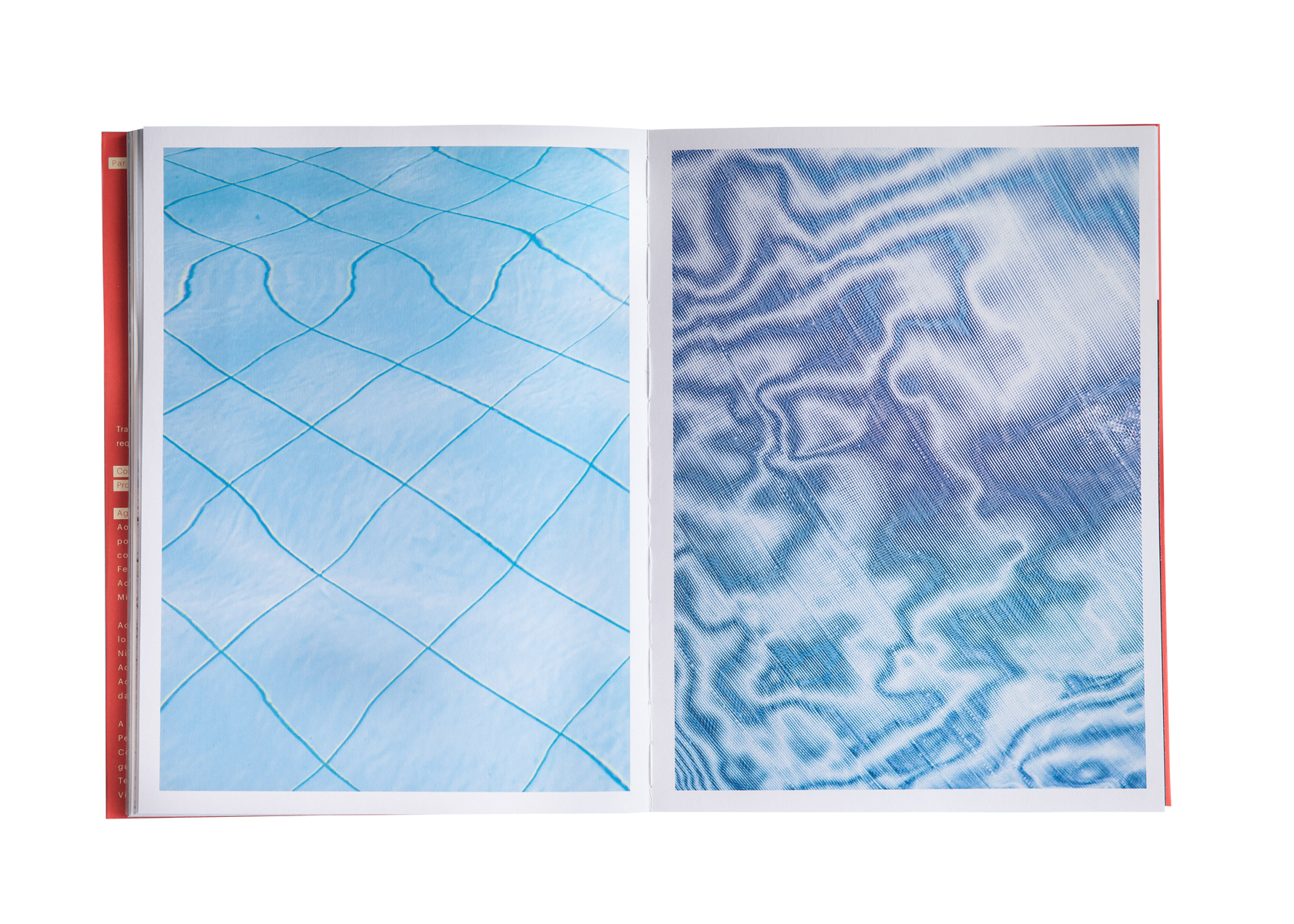Notas sobre o atrito entre o livro e a fotografia
Publicado em: 22 de fevereiro de 2019Não é preciso insistir na polêmica das nomenclaturas: livro de fotografia, livro fotográfico, livro de artista, fotolivro, tanto faz. Mas gosto de enxergar esses dois termos – livro, fotografia – quando se colocam em jogo. Mais do que a síntese, tento perceber os atritos que restam desse encontro. Faço aqui o exercício de buscar alguns sentidos históricos desse objeto, o livro, que persistem como sintoma nas recentes experiências com os livros de fotografia (e, consequentemente, com acervos que eles constituem). Em contrapartida, penso também naquilo que a fotografia perturba dessa tradição. Tal atrito não é capaz de sugerir qualquer definição ou teoria nova para os livros de fotografia. Mas permite, a partir das instabilidades que gera, notar algumas potências que se manifestam nesse objeto. A seguir, algumas delas.
1- Livros podem ser templos
O templo não era, em sua origem, um edifício erguido em nome de um deus. Era apenas um espaço demarcado na paisagem que adquiria a função de oráculo. Por exemplo, uma porção do céu onde se podia enxergar (isto é, contemplar) no voo dos pássaros o destino das coisas. Quando as crenças já se organizavam como religiões, os livros se afirmam com a função tanto de compilar esses saberes proféticos e mitologias, quanto de demarcar esse lugar de identificação com o sagrado. É nessa condição que, em muitas casas, ainda encontramos Bíblias dispostas sobre aparadores ou mesas de jantar.
Em nossos acervos pessoais, alguns livros cumprem função semelhante. Tornam-se obras-guia, obras-oráculo, obras de referência. Seu acesso não precisa ser frequente, mas é fundamental saber que estão lá para apaziguar, quando preciso, nossas angústias teóricas, práticas ou existenciais.
Quando os mitos são renegados pela racionalidade, as imagens passam a ocupar sorrateiramente seu lugar. Os mitos não são nem falsos nem verdadeiros, são construções feitas de fragmentos de vivências e de saberes lapidados pelo tempo, que têm um alto poder de interpretar o mundo e de nos conduzir a respostas. De modo semelhante, as narrativas imagéticas se reorganizam e se reinventam para que sejam fiéis não aos fatos, mas a uma memória que vai se tornando coletiva.
A empatia com essas memórias operadas pelas narrativas é o que as projeta para uma dimensão do sagrado. Mas é preciso ter um cuidado: quando o templo ganha paredes muito sólidas, ele produz respostas igualmente engessadas. Ou seja, dogmas. Não é à toa que, no passado, os colonizadores instauravam seu poder sobre um território e sua promessa civilizatória com a construção de uma igreja, em torno da qual cresciam as vilas e cidades. É preciso então desestabilizar esse lugar, restituir-lhe algum movimento e o diálogo com tempo, enfim, é preciso profaná-lo em alguma medida. No livro, como no templo, a força deve estar na pregnância das referências que criam, não na fixidez das respostas que oferecem. Às vezes, é necessário renovar as perguntas feitas aos livros consagrados e fazê-los transitar por outras prateleiras.
Também é preciso distinguir o livro que, numa biblioteca, ainda é capaz de fazer sentir esses resquícios do sagrado, daquele que é investido de um fetiche mais artificioso, que ocupa as mesas de centro, que insinua a performance da leitura, mas dispensa a vivência da narrativa: um “rito sem mito”, para usar uma expressão do filósofo italiano Mario Perniola (Pensando o Ritual). A experiência com o sagrado é cada vez menos frequente e são poucos os objetos que se aproximam desse lugar. No entanto, tais livros não precisam ser raros, ou clássicos, ou caros. Você não os adquire para assumir essa função, você é acolhido e lido por eles.
2- Livros podem ser mapas
No século 15, Pico dela Mirandola se orgulhava de ter lido todos os livros que existiam. E, com pouco mais de vinte anos de idade, escreveu suas Conclusiones, que propunha uma síntese de todos os saberes produzidos pela humanidade. O planeta, tal como enxergava o tempo de Mirandola, não era necessariamente simples, mas era pequeno e plano. O nosso é sabidamente vasto e cheio de camadas.
Nossas bibliotecas continuam sendo o esforço de um mapeamento, não mais do mundo – que se tornou grande demais – mas de pequenas frações de território escolhidas por identificação. Nem mesmo desse recorte temos a ilusão de esgotar todo o conhecimento. Não temos sequer a pretensão de ter lido todos os livros que possuímos. Assumimos muitos deles como marcações num campo que ainda está por ser explorado. Uma biblioteca, enquanto for viva, será sempre maior do que o nosso domínio. Mas, dentre os livros cuja abordagem adiamos, é preciso distinguir aqueles que não convidam a nada, que são apenas excesso e redundância, de outros que exigem reunir certa coragem para serem enfrentados, porque produzem abalos sísmicos, dissolvem fronteiras e obrigam a reconfigurar os mapas já consolidados.
Há modos distintos de fazer esse mapeamento. Os livros de teoria ainda são capazes de produzir aventuras, é certo. Mas partem de caminhos que, mesmo sujeitos a desvios e bifurcações, nos chegam minimamente sedimentados. Já os livros de fotografia – de imagens, em geral, e também os de literatura – contornam terrenos mais abertos e descontínuos. Não sabemos como nomeá-los nem qual é sua extensão. Esses acervos são como aqueles mapas antigos que eram desenhados a partir das lendas e dos relatos de viajantes, cujos trajetos e marcos eram descritos não por um sistema objetivo de coordenadas, mas por acontecimentos, por vivências da paisagem e por um tanto de fantasia.
Elegemos muitas vezes o próprio livro de fotografia como território a ser mapeado. E tivemos um dia, como um Pico dela Mirandola especializado, o desejo de conhecer toda sua extensão. Felizmente, fracassamos. Porque são as ausências, tanto quanto as aquisições, que dão identidade a um acervo e o abrem ao diálogo com outros campos. É um desperdício querer dar aos livros de fotografia um território muito exclusivo, isto é, fazer deles um mapeamento de si mesmo. Sua presença na cultura estará consolidada quando, nas bibliotecas em geral, eles aparecerem dissolvidos, participando de outros mapeamentos. Por exemplo, quando aficionados e pesquisadores dedicados ao estudo das guerras, da gastronomia, das religiões, das questões de gênero tiverem em seus acervos, ao lado de títulos de teoria e de história, alguns tantos livros de fotografia sobre seus temas.
3- Livros podem ser (eles mesmos) viajantes
Ainda que uma meia dúzia de nossos livros tragam resquícios do sagrado, esse objeto adquire na cultura moderna uma existência fluida. Livros são feitos para ter mobilidade. Uma diferença frequentemente apontada entre um livro de fotografia e uma exposição convencional é a forma de apropriação que cada um permite, não apenas de um sentido, mas de uma materialidade. Você vai a uma exposição, transita por ela e a deixa. Um livro, você porta, ele transita com você. Uma exposição pode ser itinerante, o livro é nômade.
Mas essa fluidez significa também algo que não é confortável admitir: o livro, nessa condição moderna, é feito para ser consumido sem cerimônias, com alguma dose de desprendimento. Podemos manuseá-lo com displicência, podemos esgarçá-lo, colocá-lo numa sacola ou largá-lo em lugares provisórios, podemos lê-lo no banheiro ou no vagão do metrô, podemos rabiscá-lo ou cair de sono sobre ele. Depois de lido, ele pode ser esquecido numa prateleira ou, tanto melhor, pode ser passado adiante.
É verdade que os livros podem se tornar objetos de coleção, como podem ser também os postais, os vasos, os chaveiros e as tampinhas de garrafa. Esse é um valor que não está dado de antemão, é um destino que algumas coisas podem ter, um modo de acolhimento. A coleção tem mais a ver com uma vocação do colecionador do que com uma qualidade do objeto colecionado. Nomear previamente o livro como objeto colecionável é investi-lo de um fetiche que não se sustentará, caso tal vocação não exista. Mais ou menos como aqueles fascículos que eram vendidos nas bancas de jornal e que prometiam nos iniciar no colecionismo. Eles traziam pôsteres, objetos em miniaturas, imitações de artefatos raros, traquitanas de montar, coisas que, muito precocemente, estorvavam os espaços da casa.
Esse já é um sintoma produzido pelos livros de fotografia. Depois de uma década de entusiasmo e de uma profusão de títulos, não é raro encontrar aficionados que não sustentam suas coleções. Porque encontram limites de espaço, porque repensam seus investimentos, porque não conseguem dedicar a eles o tempo prometido. Não me refiro aos colecionadores de vocação que, em seu instinto de preservação, buscam pessoas ou instituições que possam acolher seu acervo. A angústia do legado é, sem dúvida, parte de sua missão. Falo de consumidores – como eu – que por gostarem de livros, precisam abrir espaço em suas bibliotecas, admitindo que algumas obras – boas obras, inclusive – ficaram ali sem vida, sem encontrar a merecida atenção, e que é hora de colocá-las novamente em circulação. Mesmo as instituições se ressentem do excesso: se tornam mais seletivas, recusam doações e, muitas vezes, descartam ou passam suas obras adiante. Em sua condição de nômade, os livros estão sempre dispostos a nos acompanhar, mas eventualmente, também a nos deixar.
Há certa contradição em nossos discursos de celebração dos livros de fotografia: valorizamos esse formato por sua capacidade de circulação, mas ainda pretendemos colecioná-los ao modo das obras vendidas nas galerias de arte. Daí, falhamos em fazer com que os livros fossem consumidos de forma menos solene, por um público mais amplo, menos especializado. Algo que, no passado, os postais conseguiram de forma mais eficiente. Algo que, eventualmente, artistas e editoras tentam compensar aliviando o peso e o fetiche desse objeto colecionável, recorrendo ao formato de jornal, de zine, ou produzindo volumes mais despojados.
4- Livros podem ser (quase) narrativas
É preciso não confundir muito apressadamente a sequência e a narrativa, por mais que alarguemos esta última noção. Primeiro, porque uma imagem única também pode conter em si uma síntese narrativa. Segundo, porque é preciso reconhecer na sequência os momentos em que a narrativa não se realiza plenamente. A perturbação da narrativa se manifesta de forma recorrente numa geração recente de livros de fotografia: a fragmentação, a inconstância, a recusa de um eixo, a deriva do discurso, a variação da abordagem, o tangenciamento de um centro que nunca se explicita, todos esses são sintomas da contemporaneidade que encontram expressão nesse lugar. Nessa perspectiva, o lapso narrativo é também a potência dessas publicações.
O livro de fotografia pode querer dar conta de uma etapa pouco formalizada de um saber, que se apresenta ainda como impressão, como vivência difusa. A esse momento que, na literatura, precede a demanda de uma organização eficiente do relato, o filósofo francês Paul Ricoeur chamou justamente de “quase-narrativa” (Tempo e Narrativa – v. 1). Assim se configuram muitos livros de fotografia baseados numa estratégia que temos chamado de “anotação”. Mais do que contar uma história, eles apenas reúnem resíduos encontrados num processo hesitante de aproximação a um lugar ou tema.
Na qualidade de um discurso que opera como montagem, os livros de fotografia são às vezes a narrativa própria de um tempo em que a capacidade de narrar se vê em declínio, conforme observou Walter Benjamin (O narrador). O narrador é uma figura que tende a desaparecer na medida em que a modernidade já não permite um saber maturado pela experiência. Em contrapartida, esse autor reconhecia na montagem cinematográfica um modo de narrar próprio de um tempo em que toda continuidade se esfacela (A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica). Hoje, num contexto em que o tempo não é apenas acelerado, mas repleto de simultaneidades, e quando a montagem cinematográfica já nos parece bastante eloquente e confortável, a fotografia parece chamar para si a responsabilidade de sincronizar seus relatos com esse novo grau de fragmentação da paisagem. E, ao mesmo tempo, tenta arrancar dela o que ainda é possível haver de experiência.
Há também uma questão de ordem política a considerar. O livro de fotografia pode ser um esforço de posicionamento num contexto em que as narrativas – assim como os lugares de fala – estão em disputa e constituem verdadeiros territórios de guerra. Os trabalhos de artistas que se inserem nessa perspectiva não pretendem fazer uma revisão da história nos moldes acadêmicos. Mais do que impor uma nova versão, eles operam como intervenção numa narrativa que tende a se tornar hegemônica e totalitária: eles pontuam seus vícios, instauram fissuras e expõem a estrutura de poder que sustenta uma história oficial. Para ter essa força, é preciso não se consolidar demais como narrativa, isto é, não pretender ocupar o mesmo lugar contra o qual se insurgem.
5- Livros podem ser puras medialidades
Mesmo quando não pretende constituir uma narrativa, o livro de fotografia instaura uma mediação singular. Mas qual é o alcance dessa condição de meio? Como o termo sugere, o meio é um lugar de passagem que existe em função de um fim, de um lugar de chegada. O telefone – exemplo clássico – é um meio pelo qual eu me faço ouvir por uma pessoa distante. O trem é o meio pelo qual eu chego a outra cidade. Essa condição de meio parece insuficiente para pensar a produção recente de livros de fotografia. Afinal, conforme se reivindica, esse não é apenas o lugar pelo qual uma obra já constituída é levada ao público. Ele é objeto autoral tanto quanto as imagens que porta, é pensado junto ou em consonância com elas. Portanto, o livro tem um fim em si mesmo.
É preciso saber que os meios não são neutros, eles imprimem uma qualidade própria àquilo que por ele transita. O primeiro a reivindicar isso de forma clara foi o pensador canadense Marshall McLuhan, com uma afirmação que se tornou célebre: “o meio é a mensagem”. Ele explica: “a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas” (Os meios de comunicação como extensão do homem). Andamos de trem ou de bicicleta não apenas porque queremos chegar a um destino, mas porque desejamos o percurso tal e qual esses meios proporcionam, com sua velocidade, seu ritmo e sua forma de dar a ver a paisagem. O meio nunca é o vazio.
O livro é meio também no sentido da física, como lugar de materialidade própria capaz de transformar um movimento. Se você entra no mar, seu corpo sente a mudança de meio e sua sensibilidade se reconfigura. É isso que faz um livro quando entramos nele, em especial alguns livros de fotografia que comunicam essencialmente as densidades formadas por suas imagens. Nessa condição, o livro é muito mais do que uma sequência, é um ambiente que manifesta suas qualidades em movimentos descontínuos. Quantas vezes não começamos um livro pelo meio (a palavra é inevitável!) e saltamos por suas páginas numa ordem que não obedece a linearidade imposta pela encadernação?
No tópico anterior, eu me referi aos livros que tangenciam temas sem a necessidade de chegar a seu cerne. Por vezes, essa condição se agrava a ponto de sequer haver algo que possamos chamar de tema. Há apenas imagens entrelaçadas com critérios que, mesmo coesos, são sempre difíceis de nomear. Ainda assim, ao percorrer esses livros, sentimos uma qualidade própria do lugar que atravessamos: sua capacidade de inserir o corpo que olha numa combinação peculiar de zonas mais concentradas e mais rarefeitas, de impor a esse corpo mobilidades ou resistências, mais peso ou mais leveza, de fazê-lo acelerar ou desacelerar, submergir ou flutuar.
Não é simples perceber esse estado de “pura medialidade” (empresto essa expressão do filósofo italiano Giorgio Agamben, do artigo Notas sobre o gesto). Não é simples porque tal percepção implica se aliviar de perguntas que recaem especialmente sobre a fotografia: onde foi isso, do que se trata? Ou seja: o que é que a imagem mostra e que já existia antes dela? Mas exige também refrear a ansiedade de fazer do livro um objeto artístico que tenha de antemão um fim em si mesmo. Porque, ainda que seja para chegar a um lugar que se constrói pelas imagens, esse lugar nunca está pronto. Ele não existe até que o livro seja percorrido a cada vez, até que se chegue a um lugar que está, ao mesmo tempo, dentro e além do caminho que ele oferece.///
Ronaldo Entler é pesquisador, crítico de fotografia, professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP (SP). Edita o site Icônica (www.iconica.com.br).
Tags: fotolivros, livros, Narrativas visuais